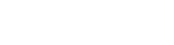Por: André Luís Alves de Melo
André Luís Alves de Melo*
Uma visão crítica sobre o atual modelo de assistência jurídica e seu viés de violação simbólica aos direitos humanos
A questão da assistência pública na área jurídico-social tem sido tratada sob um enfoque em que prevalece mais o interesse das corporações jurídicas do que o efetivamente pobre, inclusive copiando modelos federativos para se prestar serviço de assistência pública, o que causa grande burocracia. Em verdade, com o discurso de inclusão social acabam é aumentando a exclusão dos mais pobres, pois estes não participam do sistema com poder decisório. Atuam apenas como expectadores, em geral, ou no máximo como coadjuvantes. Mas, jamais como protagonistas.
Não há dados sobre o custo da assistência jurídica, pois o interesse corporativo não se interessa por esse tema. No entanto, estima-se que o país gaste mais de dois bilhões de reais por ano com assistência jurídica, englobando pagamento de salários, honorários advocatícios e isenção de tributos como emolumentos e custas judiciais.
O valor é considerado insuficiente por muitos, mas daria para construir mais de 200 mil casas populares ao ano e que abrigariam um milhão de pessoas por ano. Também representa mais de um terço do que se gasta com o programa bolsa família. No tocante a este benefício, há certa participação popular e também estudos de que indicam uma efetiva mudança nas condições no meio carente, pois todo o valor é entregue diretamente à família. Enquanto, os valores referentes à assistência jurídica ficam, em regra, com a própria classe jurídica (em geral classe média).
Registra-se ainda que não há nem mesmo uma preocupação em se fazer uma estatística nacional sobre o custo da assistência jurídica ou sobre o seu impacto na questão social. Essa verba pública acaba virando um favor rei do meio jurídico. E tem beneficiado pessoas da classe média e até alta com meras alegações de pobreza, e já se concedeu a dentistas, juízes, médicos e empresários em questões até meramente patrimonial.
A rigor, a gratuidade judicial tem servido apenas para fomentar o “mercado” judicial, como se o acesso ao Judiciário (meio) fosse mais importante que o direito em si (fim). Logo, de forma paradoxal há gratuidade para ações de cobrança e dano moral, mas o pobre tem que se pagar para ter CPF, Identidade e até para se ter uma Carteira de Motorista para trabalhar. Uma total inversão de prioridades.
O acesso ao direito material em si é colocado em segundo plano em razão do interesses de categorias jurídicas em manter o monopólio judicial.
Em uma breve análise é possível verificar que o Rio de Janeiro gasta mais com gratuidade judicial do que Santa Catarina, mas nada indica que tenha um IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) melhor ou que seus pobres estejam melhores.
Aproximadamente em 80% das ações judiciais concede-se gratuidade judicial e sem uma análise mais profunda, o que justifica a percepção de que não há pobres sendo atendidos pelo sistema judicial.
No Brasil, 42% da população recebe menos de um salário mínimo e quem ganha três salários mínimos (renda familiar e não per capta) já é considerado como classe média pelo IBGE. Mesmo assim, concede-se gratuidade judicial até para quem tem alta renda, acima de vinte salários mínimos, afinal não se exige comprovação. E assim falta dinheiro para educação, saúde e acaba gerando o demandismo judicial em que o país gasta mais de 3,6% do PIB apenas com sistema judicial, sem computar as despesas com demais carreiras jurídicas. Esse valor é mais do que se gastou com educação (3.5% do PIB) em todo o país em 2004 e é uma das maiores porcentagens do mundo com gasto judicial.
Nos Estados Unidos não se concede assistência jurídica para a área cível, mas asseguram o Jus Postulandi (direito pessoal de defender direito próprio junto ao Judiciário) e também há um limite de orçamento para essa atividade, o que acaba exigindo definição de prioridades. Na Espanha somente há assistência jurídica gratuita para quem recebe até dois salários mínimos.
A rigor, o sistema brasileiro está estruturado para atender ao setor jurídico, ou seja, gerar renda e salários para a classe jurídica. Apesar das promessas de defender os pobres, a prática é outra. Afinal, o carente precisa é de educação, moradia, alimento, trabalho, saúde pública e outros direitos fundamentais que são difíceis de serem resolvidos esses problemas pela via judicial.
No entanto, a maior violação dos direitos humanos é o fato de se excluir o pobre do plano decisório. A verba de assistência jurídica e judiciária é distribuída sem planejamento algum e acabam beneficiando as carreiras jurídicas, além de pessoa da classes média e alta.
Se a comunidade carente desejar uma via de solução extrajudicial, não terá como, pois o sistema já está estruturado para atender à esfera tradicional judicial. Afinal, o pobre não “entra”, alguém entra por ele. E também, quem estará julgando é membro da classe média. Logo, há muito mito e pouca efetividade.
O pobre não pode escolher o seu advogado de confiança, nem decidir no plano administrativo e agora nem mais tem controle mais da ação, pois os bacharéis em Direito querem atuar por substituição processual, considerando os pobres como crianças incapazes. Ademais, o pobre nem mesmo pode, em regra, dirigir-se diretamente ao Judiciário.
O modelo atual viola até mesmo o direito de a comunidade organizar-se e apresentar soluções que sejam adequadas à sua realidade. Também não gera renda e emprego para a comunidade carente.
Melhor seria que se reduzisse o valor das custas e emolumentos, mas se aumentasse a base de pagantes, excluindo apenas os comprovadamente carentes e com limites mais claros.
Como é um programa de assistência pública é necessário que haja planejamento e definição de valores, pois senão acaba gerando o “assistencialismo jurídico”. Inclusive deveria seguir as regras dos programas sociais indicando receita e indicando a eficiência dos gastos.
O ideal seria que essa verba fosse prevista no orçamento e um órgão colegiado com a participação decisória dos carentes estabelecesse as medidas, pois poderiam decidir investir, por exemplo, na implantação dos agentes comunitários de justiça (similares aos agentes comunitários de saúde) e que residiriam na própria comunidade, ou seja, haveria geração de renda e trabalho no próprio local e com autonomia local através da difusão da informação.
A forma atual de assistência jurídica transforma os carentes em uma relação de colonização em que há eventuais visitas periódicas aos mesmos, mas toda a riqueza fica com a metrópole (classe jurídica). Isso acaba retro-alimentando, assim, práticas de exploração, dominação e dependência que perpetuam o ciclo vicioso da exclusão social, pois não permite a distribuição de renda, de riqueza, de conhecimento e de poder, a qual continua concentrada na classe jurídica, uma espécie de elite.
Os interesses são tão corporativos que se chega a confundir assistência pública com assistência estatal e monopólio de pobre. E não adianta tentar explicar que a Constituição Federal ao estabelecer que é obrigação do Estado, não estabeleceu que é uma obrigação privativa ou exclusiva. Ou, que se deva apenas através de algum órgão. Ou seja, estabeleceu o mínimo de atendimento e não o máximo.
É preciso buscar um modelo autogestionário, capaz de fazer o empoderamento dos pobres para exercerem por si próprios o seu papel de sujeito com acesso aos direitos e deveres, o que poderia ser feito através de um modelo em rede ou sistema de assistência jurídica que englobaria iniciativas sociais, estatais e privadas de acesso à cidadania participativa através de meios judiciais, administrativos e outras modalidades, além de se criar critérios para avaliar os resultados obtidos e prioridades para se comprovar a efetiva carência econômica e definir atendimento, cuja idéia mais próxima é a sugerida para implantação de um sistema ou rede de assistência jurídica de forma descentralizada como consta do site www.sinajur.org.
Caso contrário estaremos agindo como os coronéis de determinada região que monopolizam o acesso à água e mantêm a pobreza, pois recebe recursos para “defender os seus pobres correligionários”. Afinal, sem autonomia, participação e liberdade aos pobres, não há cidadania, nem assistência jurídica mas dominação jurídica e classista, além de violação da dignidade humana e direitos humanos.
*André Luís Alves de Melo é Promotor de Justiça (MP/MG)