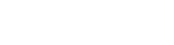Artigo originalmente publicado no portal Conjur
1. Introdução
O que significa levar o Direito a sério? A pergunta nos remete ao trabalho do jusfilósofo norte-americano Ronald Dworkin, que se tornou um dos teóricos mais influentes do pensamento jurídico contemporâneo quando, a partir da década de 60 do século passado, desafiou, de forma original e abrangente, a tese da separação conceitual necessária entre direito e moral. Para o autor, uma democracia deve levar a sério os direitos dos integrantes da comunidade política, protegendo-os do arbítrio e, eventualmente, mesmo das vontades majoritárias dos indivíduos; e uma forma de resguardar estes direitos (e de reconectar direito e moral) é a exigência de que as decisões jurídicas sejam geradas por princípios morais. Desenvolvendo esta ideia, e em meio a um contexto constitucional que consagra a judicial review, Dworkin concebeu o Poder Judiciário como um fórum independente, um fórum do princípio, que deveria honrar a seguinte promessa, feita aos integrantes da comunidade política: de que seus conflitos mais profundos e fundamentais, “irão, em algum dia, em algum lugar, tornar-se finalmente questões de justiça”[1].
Decidir por princípio, e não por política (metas públicas, objetivos comuns), para Dworkin, era uma questão de isonomia. Tenha-se presente que, para ele, um governo aceitável, digno, tem o dever crucial de tratar as pessoas sob seu domínio com igual consideração e respeito (equal concern and respect). E o filtro do princípio funcionaria, assim, como uma garantia de que o poder público seria exercido sem desrespeito pela dignidade das pessoas, dotadas de igual importância e merecedoras de igual atenção. De fato, para o pensador americano, o propósito (point) do Direito era o de garantir a legitimidade do exercício do poder público de coerção. E o Poder Judiciário, num Estado Constitucional em que se pratica judicial review, figuraria como o último guardião deste arranjo.
Juízes têm, portanto, o dever de zelar pela isonomia e de ancorar suas determinações em princípios de moralidade pública. Como fazê-lo de maneira correta? Dworkin passou boa parte de sua trajetória formulando e reformulando esta resposta. Encontramos diferentes abordagens e enfoques desta questão ao longo de sua obra. Neste ensaio, vamos focalizar uma de suas propostas mais conhecidas: a exigência de que juízes e tribunais decidam de modo coerente e com respeito à integridade do Direito[2].
Nossa análise será voltada à jurisdição eleitoral. Não só por se tratar de um campo em que são visíveis as tensões entre argumentos de política e de princípio; mas sobretudo porque a Justiça Eleitoral brasileira, por uma série de fatores distintos e combinados, vem se mostrando como uma espécie de terreno inóspito à integridade do Direito e a decisões coerentes. Nosso objetivo é o de lançar luz sobre alguns destes aspectos, contribuindo para a democratização do exercício deste ramo da jurisdição constitucional. Ao trabalho.
2. Um ponto de partida: a valorização da jurisprudência eleitoral
Em abril do corrente ano[3], o então presidente do TSE, ministro Luiz Fux, destacava a importância de os magistrados eleitorais falarem “a mesma língua”, aplicando a jurisprudência fixada pelo TSE para gerar segurança jurídica. Conforme sua excelência, “a ideia é que as jurisprudências dos tribunais sejam um norte para os juízes e, para tanto, devem ser coerentes. Não se pode julgar casos iguais de maneira diferente. As jurisprudências devem ser estáveis”. De fato, a preocupação com a estabilidade e a coerência na aplicação do Direito Eleitoral já havia aparecido na Resolução TSE 23.472/16[4].
O desafio que se apresenta para o TSE é o de manter hígidos os critérios de coerência e integridade quando se depara com questões altamente controvertidas e que se relacionam com temas pertinentes com a formação da vontade política estatal. Decidir questões envolvendo legitimidade do processo eleitoral, soberania popular, elegibilidade, mandato eletivo demanda um esforço argumentativo de grande complexidade, que, por vezes, é obnubilado por uma inescapável tensão e dicotomia entre o mundo político e o mundo jurídico. Nesse contexto, o Poder Judiciário Eleitoral não pode sucumbir à tentação de dar uma resposta desvinculada da ideia de que a integridade do direito pressupõe que todos os indivíduos devam ser tratados com igual respeito e consideração. Vale dizer, o julgamento das questões eleitorais deve sempre envolver argumentos de princípio, e não de política.
Deve sempre envolver, mas não tem, contudo, envolvido. Selecionamos, como ponto de observação crítica e de ilustração do nosso argumento (de que a jurisdição eleitoral tem sido exercida, frequentemente, de modo desatento aos deveres de coerência e integridade — e, portanto, em desacordo com o dever de isonomia), alguns casos difíceis que chegaram ao TSE ao longo dos últimos processos eleitorais[5].
3.1. Pesquisas eleitorais
A legislação é econômica quando trata de pesquisas eleitorais. Desprezando o aspecto criminal, a lei prevê a divulgação de pesquisa irregular como ilícito, sujeitando os responsáveis a multa (artigo 33, parágrafo 3º, da LE). Essa irregularidade ocorre com a divulgação da pesquisa sem o prévio registro das informações exigidas no caput do artigo 33 da lei — e não quando a pesquisa é divulgada de forma antecipada (isto é, antes dos cinco dias do registro).
A Lei 12.891/13 acrescentou a vedação, no período de campanha, da realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral (artigo 33, parágrafo 5º, da LE). Além de não conceituar enquete (e no que ela se diferencia da pesquisa), a lei não previu sanção em caso de descumprimento da regra. Para o TSE, enquete ou sondagem é a pesquisa de opinião pública que não obedeça às disposições legais e às determinações previstas nesta resolução[6]. Se o TSE tem afastado a multa nos casos de divulgação de pesquisa registrada sem todas as informações exigidas por lei (AgrRgRESPe 36.141 – j. 16/6/2014), existe um sério debate sobre a possibilidade de aplicação de multa no caso de divulgação de pesquisa antecipada e de enquetes ou sondagens no período de campanha.
Analisando o panorama vigente em 2016 — no qual a Resolução TSE 23.453/15, regulamentadora da pesquisa, não previu sanção pecuniária para a divulgação de enquetes ou sondagem durante a campanha[7] — é possível aferir que o TSE não tem levado a um bom termo suas decisões. Assim, o TSE, inicialmente, rechaçou a aplicação de multa nos casos de divulgação de sondagens ou enquetes durante o período de campanha (AgRgRESPe 37658 – j. 19/12/2017). Além de vedar a multa, no decisum é destacada a proibição de uma interpretação extensiva e uma analogia in malam partem para a cominação de sanção. Porém, em momento posterior (mas ainda julgando processos da eleição de 2016), o TSE definiu ser possível aplicar multa no caso de divulgação de pesquisa antecipada (AgRgRESPe 14.488 – j. 19/6/2018), ou seja, divulgada antes do prazo fixado de cinco dias. O fundamento dessa decisão é a inobservância do artigo 17 da Resolução TSE 23.453/15; contudo, esse dispositivo, por replicar o artigo 33, parágrafo 3º, da LE, é invocável quando houver uma divulgação de pesquisa sem o prévio registro, e não quando sua divulgação ocorrer antecipadamente.
Perceba-se a incoerência: a legislação, no que diz respeito à vedação das enquetes, funciona quase como soft law, ou seja, aponta para a proibição, mas não a sanciona; o TSE, num primeiro momento, encampa esta compreensão, ancorando sua decisão no argumento de princípio de que é descabida a analogia in malam partem. Contudo, no caso seguinte (divulgação de pesquisa antecipada, também não contemplada por sanção), este argumento perde peso e, sem que tenha sido apresentada uma única boa razão para a distinção de tratamento, a conduta passa a ser sancionada. Pela via da analogia in malam partem. E o mais curioso: ambas decisões foram relativas à mesma eleição, unânimes e com variação mínima entre as duas composições (cinco ministros coincidem nessas votações).
3.2. Propaganda em templos e igrejas
A jurisprudência do TSE sempre foi tranquila ao reputar ilícita a propaganda em templos e igrejas, pois são bens de uso comum, a atrair a vedação do artigo 37, caput, combinado com o parágrafo 4º, da LE. Esse entendimento foi adotado nas eleições de 2014 (AgRgAI 781.963 – j. 17/11/2016) e de 2016 (AgRgAI 23.930 – j. 19/6/2018). Por isso, chama a atenção a decisão da ministra Rosa Weber quando, ao analisar um processo das eleições de 2014, monocraticamente e com a concordância do parecer ministerial (que era o autor da representação), reputou lícita a distribuição de impressos no interior de templo religioso[8]. Nas suas razões, a ministra Rosa Weber assevera que o artigo 37, caput, da LE deve ser interpretado em consonância com o artigo 38 da mesma lei, pois “se o art. 37, caput, da Lei n° 9.504/97 for interpretado no sentido de que é vedada a realização de qualquer propaganda eleitoral em bem público, restaria vedada a distribuição de material de campanha não só em prédios públicos, mas também nas ruas, esvaziando, assim, a norma contida no art. 38 da mesma lei”. Para reforço da sua argumentação, cita como precedente decisão monocrática do ministro Herman Benjamin[9], na qual se conclui como lícita a distribuição de material de campanha em bens de uso comum.
Contudo, algumas ressalvas são necessárias. A um, a decisão do ministro Herman Benjamin não guarda a mesma similitude fática do julgado da ministra Rosa Weber, ainda que ambos tratem de bens de uso comum (naquele houve distribuição de propaganda em uma feira livre; neste, no interior de uma igreja). É dizer, a razoabilidade da interpretação indica que não podem ser equiparados atos de distribuição de propaganda eleitoral em bens de uso comum “fechados” ou de acesso controlado ao ato de distribuição de propaganda realizada em locais abertos (ruas, praças). A dois, a decisão da ministra Rosa Weber em momento algum trouxe qualquer argumento para superar o entendimento então consolidado do TSE (vedação de propaganda no interior das igrejas). A três, porque a decisão monocrática desconsiderou o arcabouço consolidado pelo Pleno do tribunal em relação àquele pleito.
Este caso é ilustrativo, assim, de duas disfuncionalidades: primeiro, a desconsideração do Direito como um romance em cadeia, como um empreendimento coletivo que os juízes têm o dever de continuar, ao revés de começarem, a cada decisão, um novo livro. Dito de modo mais simples, as revisões de entendimento não podem ser bruscas e têm de ser devidamente acompanhadas de argumentos de princípio suficientemente densos para justificar a mudança. Estabilidade, coerência e integridade, pois. Segundo, o exemplar é representativo da inconsistência do uso de precedentes como fundamentação de decisões. Quando se invoca um precedente (aqui entendido como qualquer decisão de um caso anterior, e não como material jurídico primário) como fundamento de uma decisão judicial, deve-se atentar não para o dispositivo, mas para as suas razões determinantes. O precedente, mesmo nos países em que ele tem força vinculante, não tem valor de promulgação; ele é mais ou menos importante conforme sejam influentes os argumentos de princípio que lhe fundamentam. E só se chega aos princípios depois de perscrutados os fatos da causa, o contexto de aplicação. Em suma, a invocação da decisão de Benjamin para a composição da decisão de Weber não tem qualquer valor sem o enfrentamento da discussão sobre a (ir)relevância da distinção entre os bens públicos abertos e fechados; e, em todo caso, sem a discussão sobre a necessidade de superação da cadeia de decisões até então prevalente.
3.3. A inelegibilidade e crime de violação de direitos autorais
A sucessiva alternância de entendimento do TSE sobre temas controvertidos é bem desenhada na interpretação sobre a incidência do crime de violação do direito autoral como suficiente a atrair a inelegibilidade do artigo 1º, inciso I, alínea e, 2, da LC 64/1990: nas eleições de 2012, adotou entendimento pela inelegibilidade (RESPe 20.236 – j. 27/9/2012); nas eleições de 2014, pelo não reconhecimento (RO 98.150 – j. 30/9/2014); em 2016, retornou-se a defender a inelegibilidade (RESPe 14.594 j. 5/4/2017). E, em todos esses julgados, não houve qualquer menção à necessidade de preservação da segurança jurídica e tampouco a observância ao princípio da anualidade eleitoral. Nesse ponto, destaca-se que, mesmo ainda não tendo sido editada a resolução do TSE, que prevê a aplicação do princípio da anualidade para as decisões eleitorais, esse entendimento já era preconizado pelo STF (RE 637.485 – repercussão geral – j. 1º/8/2012). Qualquer semelhança com o dog law de Bentham[10] não é, com efeito, mera coincidência.
Considerações finais
Começamos este texto escrevendo sobre como se levam a sério os direitos das pessoas, e apontando a tese da integridade do Direito como uma via possível. Não se trata de um exotismo, ou de exigir demais de nossos juízes, em tempos de pluralismo cultural e de valores. Trata-se de preservar igualdade de consideração e respeito (e sempre, num nível mais profundo, da dignidade humana). No que trata especificamente da aplicação de precedentes (e, nos casos selecionados, a invocação de “precedentes” é um lugar comum, com maior ou menor ênfase), o case pela integridade fica ainda mais atraente. É preciso, como já tivemos oportunidade de afirmar noutra sede[11], atentar para os riscos da desintegração (em que se desvincula arbitrariamente um caso perante a totalidade da prática jurídica) e da hiperintegração (por meio da qual se trata casos distintos como abrangidos por uma mesma regra geral). A solução está em levar a sério a exigência hermenêutica de compreender o texto (sempre um evento, como o é o precedente) a partir da situação concreta na qual foi produzido. Assim, para que um sistema de precedentes funcione minimamente, é preciso ter em conta que uma decisão passada não se esgota com o sentido particular que lhe foi atribuído quando da sua criação. A metáfora por Dworkin proposta ilustra bem isso: o juiz deve se comportar, em matéria de precedentes, como um continuador de um texto coletivo.
Dizendo de outro modo, a Justiça Eleitoral não é uma divisão autônoma da jurisdição constitucional brasileira e não deve se comportar como se fosse. Aliás, é na Justiça Eleitoral, mais do que nos demais ramos da jurisdição constitucional, que a dificuldade contramajoritária se torna mais visível. A interferência direta da justiça nos processos políticos representativos (e de constituição da representação) é necessária e virtuosa, mas não se pode dar de modo discricionário[12].
Numa palavra final, a isonomia e a dignidade humana devem coordenar a experiência jurídica e justificar o emprego da força coletiva de coerção. Quando não o fizerem, é porque nós, participantes deste empreendimento coletivo, fracassamos.
[1] DWORKIN, Ronald. Uma Questão de Princípio. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 102-3.
[2] Como se sabe, a observância dos padrões estabilidade, coerência e integridade da jurisprudência, por parte dos tribunais, é determinada pelo artigo 926 do CPC/2015. Referido dispositivo se deve, em grande medida, à contribuição de Lenio Streck, que não apenas defendia esta proposta (de que juízes e tribunais têm de decidir de modo coerente e com respeito à integridade do Direito) em sede doutrinária, mas que também sugeriu emenda à redação inicial do artigo no anteprojeto. Conferir: Por que agora dá para apostar no projeto do novo CPC!, disponível em: https://www.conjur.com.br/2013-out-21/lenio-streck-agora-apostar-projeto-cpc, acesso em 19/9/2018.
[3] http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Abril/presidente-do-tse-defende-respeito-a-jurisprudencia-durante-periodo-eleitoral, acesso em 5/9/2018.
[4] Nessa instrução, o TSE pontuou que a modificação da sua jurisprudência entrará em vigor na data de sua publicação, mas não se aplicará à eleição que ocorra até um ano de sua vigência (artigo 5º); definiu em que consiste a modificação da jurisprudência e assentou que, no julgamento de qualquer feito eleitoral, serão observados os princípios da segurança jurídica e da confiança (artigo 6º). Em suma, o TSE, incorporando-se à tendência brasileira recente de valorização normativa da jurisprudência, pactuou um tríplice compromisso: com o princípio da anterioridade ou anualidade eleitoral, de um lado; com a segurança jurídica e confiança, de outro.
[5] Não há espaço aqui, v.g., para desenvolver um tema bastante fértil para o debate jurídico, que é a questão do ativismo da Justiça Eleitoral, cujos exemplos mais candentes são o do número de vereadores nas eleições de 2004, da fidelidade partidária e da verticalização das coligações.
[6] Para as eleições de 2014, artigo 24, parágrafo único, da Resolução TSE 23.400/13; para 2016, artigo 23, parágrafo único, da Resolução TSE 23.453/15; para 2018, artigo 23, parágrafo único, da Resolução TSE 23.549/17.
[7] Abstraindo toda a polêmica relativa ao poder normativo na edição das resoluções regulamentadoras dos pleitos eleitorais, o fato é que, nas eleições de 2018, o TSE estabeleceu que uma sanção por divulgação de enquete no período de campanha (artigo 23, parágrafo 2º, da Resolução TSE 23.549/17).
[8] RESPe 162.211 – j. 14/6/2018 - decisão monocrática – rel. min. Rosa Weber.
[9] RESPe 8.353 – j. 20/9/2017 – decisão monocrática – rel. min. Herman Benjamin.
[10] A expressão dog law aparece nas reflexões de Jeremy Bentham, para quem o direito inglês seria um direito judiciário, integralmente criado por juízes — sendo por essa razão, essencialmente retroativo (no sentido de que o sistema jurídico não asseguraria um determinado direito aos indivíduos, e nem lhes atribuiria deveres, previamente à decisão judicial; esta é que os criaria). Sendo retroativo, equivaleria a um dog law (Quando você quer dissuadir seu cachorro de fazer alguma coisa, você espera até que ele faça e, então, puna-o por fazê-lo). Esta formulação é feita por Bentham em meio a uma campanha pela codificação do direito inglês, com o objetivo de aumentar a segurança jurídica na sua criação e aplicação. Uma boa contextualização do pensamento de Bentham neste ponto, e que serviu de referência para esta nota, é feita por Daniel Mitidiero em seu Precedentes: da persuasão à vinculação (3ª ed, 2018, p. 38-39).
[11] MOTTA, Francisco José Borges; RAMIRES, Maurício. O Novo Código de Processo Civil e a Decisão Jurídica Democrática: como e por que aplicar precedentes com coerência e integridade? In: STRECK, Lenio Luiz; ALVIM, Eduardo Arruda; e LEITE, George Salomão (coord.). Hermenêutica e Jurisprudência no Código de Processo Civil: coerência e integridade. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 86-112.
[12] A propósito do enfrentamento da discricionariedade judicial, conferir, por todos: STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.