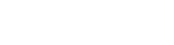A experiência demonstra que o controle externo realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público tem prestado importante contribuição para o aperfeiçoamento do Ministério Público brasileiro. Apesar disso, ainda é grande a dificuldade na identificação de um ponto de equilíbrio entre a aferição dos atos praticados e a própria absorção da liberdade valorativa inerente às Instituições controladas. A juridicidade há de ser o balizador a ser observado, sem avanços ou retrações indevidas.
Sumário. 1. Aspectos introdutórios; 2. Causas de interferência no processo de comunicação normativa; 3. O “controle” e seus significados; 3.1. A posição do controlador; 3.2. A natureza do controlador; 3.3. A natureza do controle; 3.4. O objeto do controle; 3.5. A amplitude do controle; 3.5.1. O exercício do poder regulamentar e o objetivo de uniformizar o Ministério Público brasileiro; Epílogo.
Resumo: Não obstante a relevância do controle externo realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, é evidente a dificuldade enfrentada na identificação de um ponto de equilíbrio entre a aferição dos atos praticados e a própria absorção da liberdade valorativa inerente às Instituições controladas. Esse controle deve permanecer adstrito aos referenciais de juridicidade, tendo como única exceção, por imperativo constitucional, o conhecimento e a revisão de reclamações disciplinares contra membros e servidores do Ministério Público brasileiro, estando o Conselho autorizado a rever as sanções aplicadas, realizando um juízo valorativo de natureza tipicamente discricionária. Nos demais casos, quer com os olhos voltados a uma situação concreta, quer no âmbito das generalidades, com a edição de atos normativos de cunho regulamentar, não lhe é dado avançar a jusante da juridicidade.
Palavras-chave: Conselho Nacional do Ministério Público; controle externo, juridicidade; e liberdade valorativa.
Abstract: Despite the importance of external control performed by the National Council of the Public Ministry, it is clear the difficulty faced in identifying a balance between the control of the acts committed end the absorption of the freedom of evaluation inherent of the controlled institutions. This control must remain attached to the benchmarks of legality, with the only exception of the review of disciplinary complaints against members of the Brazilian Public Ministry. The Council is authorized to review the sanctions, making a value judgment of typically discretionary nature. In other cases, in a concrete situation or in the field of generalities, with the enactment of normative acts, the Council must not advance downstream of legality.
Keywords: National Council of the Public Ministry; external control, legality, and valuing freedom.
1. Aspectos introdutórios
No curso de sua evolução, o Ministério Público brasileiro passou por inúmeras vicissitudes. Em sua origem mais remota, refletia mero cargo isolado, sequer consubstanciando uma verdadeira estrutura orgânica.[1] Nesse período, sua autonomia funcional era sensivelmente mitigada, isso em razão da adstrição do agente às orientações do governo, ao qual deveria representar em juízo. Se o Decreto nº 848/1890, que criou a Justiça Federal, conferiu ao Ministério Público, ao menos formalmente, organicidade e perfil institucional, somente a Constituição de 1934 alçou essa individualidade ao plano constitucional.[2]
Após o reconhecimento de sua individualidade existencial, os vínculos com o Poder Executivo e a lógica cartesiana que buscava ajustar o Ministério Público à clássica tripartição das funções estatais sempre dificultaram a compreensão sobre o seu modo de inserção nas estruturas estatais de poder. Já esteve entre os “órgãos de cooperação nas atividades governamentais” (1934), no âmbito do Poder Executivo (1969) ou do Poder Judiciário (1967), ou foi simplesmente omitido (1937). A Constituição de 1946 chegou a lhe dedicar título próprio, dissociando-o dos demais Poderes do Estado, e a Constituição de 1988 o inseriu entre as “funções essenciais à administração da Justiça”. Se a legislação infraconstitucional já havia lhe assegurado algumas prerrogativas, foi com a reconstrução democrática do País que a Instituição verdadeiramente alcançou o seu apogeu. Foram dissolvidos os vínculos com o Executivo e ao Ministério Público foi outorgada, de forma expressa, autonomia funcional e administrativa e, de forma implícita, autonomia financeira, dispondo o art. 127, § 3º que ele “elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias”, podendo, ainda, empenhar as respectivas despesas.[3]
Nesse momento, o Ministério Público passou a ter plena liberdade valorativa em relação às questões de sua alçada, somente se sujeitando ao controle financeiro realizado pelo Tribunal de Contas e, face ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, às decisões do Poder Judiciário. Essa situação perdurou até o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, que criou o Conselho Nacional do Ministério Público. Compete a esse órgão, a teor do § 2º do art. 130-A, da Constituição de 1988, “o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros”, sendo o modo de exercício dessa atribuição detalhado nos incisos do referido preceito.[4]
O objetivo de nossas breves considerações é analisar a polissemia do substantivo “controle” e as interferências que daí decorrem no processo de comunicação normativa, a começar pelo próprio Conselho Nacional do Ministério Público, que tem encontrado certa dificuldade na obtenção de um ponto de equilíbrio entre o controle propriamente dito e a absorção de toda e qualquer margem de liberdade valorativa das Instituições controladas.
2. Causas de interferência no processo de comunicação normativa
A estruturação da sociedade em sistemas, articulados entre si e que apresentam contornos extremamente variáveis, como o econômico, o político e o jurídico, tem, como consequência inevitável, que cada um deles desenvolva uma linguagem própria,[5] cuja funcionalidade é oferecer facilidades comunicativas que não poderiam ser obtidas com o uso da linguagem ordinária. São exemplos de “linguagem para propósitos específicos” ou linguagens específicas,[6] que coexistem com a “linguagem para propósitos gerais” ou, simplesmente, linguagem ordinária.[7] A linguagem jurídica é um nítido exemplo de linguagem específica, que busca aumentar o nível de precisão no processo de comunicação[8] utilizando signos linguísticos estranhos à linguagem ordinária ou, embora comuns, lhes atribuindo, não raras vezes, significados diversos, consentâneos com o sistema em que inseridos.[9]
Constata-se, por outro lado, que, nas linguagens específicas, juntamente com o tecnicismo, coexistem os signos linguísticos empregados na comunicação ordinária, signos estes que atuam como verdadeiros amálgamas, contribuindo para a construção da estrutura e intelegibilidade do texto.[10] Não devem ser vistas como sistemas fechados, totalmente dissociados da linguagem ordinária. A utilização da linguagem ordinária, em verdade, não chega a ser uma opção, mas verdadeiro imperativo, o qual, ao fim, contribui para a própria aceitação da Constituição.[11] Isso, no entanto, não afasta a constatação de que a estrutura semântica e sintática dos enunciados linguísticos constitucionais costuma apresentar algumas especificidades quando cotejada com as demais espécies normativas de natureza infraconstitucional. Ainda que a profusão de Constituições analíticas seja a tônica, o que em muito destoa do caráter sintético dos primeiros textos constitucionais, verifica-se que os enunciados utilizados costumam ser demasiado breves, esquemáticos e incisivos, em muito ampliando o grau de dificuldade da interpretação constitucional.[12] Afinal, como se referem a fenômenos da realidade e a valores ou bens da vida social, cabe ao intérprete assegurar a sua interação com esses referenciais, o que pressupõe sejam superadas as incertezas existentes e assegurada a elasticidade possível, sempre com o objetivo de garantir a eficácia da Constituição formal.
Os enunciados linguísticos normativos, em razão do seu caráter essencialmente prospectivo, devem ter uma capacidade de adaptação às vicissitudes da realidade, evitando, desse modo, a realização de sucessivas reformas legislativas. A exemplo das obras de arte, têm sido vistos, guardadas as devidas proporções, como uma “obra aberta”, isso para utilizarmos o conceito de Umberto Ecco.[13] São formas completas e fechadas, quando vistas na sua perfeição de organismo perfeitamente individualizado, e abertas face à possibilidade de serem interpretadas de modos diversos, sem que sua singularidade resulte alterada. Daí a existência de uma verdadeira “tensão constitutiva”[14] entre os significantes e os significados que lhes serão atribuídos no caso concreto.
É importante ressaltar, desde logo, que os problemas enfrentados no curso do processo de interpretação não se exaurem no plano linguístico. A existência de uma pluralidade de significados potencialmente atribuíveis a um único significante interpretado é influenciada não só pela polissemia do enunciado interpretado, como, também, pelos distintos valores encampados pelo sistema, não raras vezes inconciliáveis, o que é típico das sociedades pluralistas; pelos fins a serem alcançados pela norma (v.g.: ampliando ou comprimindo liberdades, tensão dialética particularmente visível nos sistemas liberais e socialistas); e pelo modo de operacionalizá-la na realidade (v.g.: impondo deveres ou faculdades, dever de realização stricto sensu ou dever de legislar etc.). Em cada um desses planos de análise, o intérprete irá se deparar com uma pluralidade de grandezas divergentes, cada qual influenciando um ou mais significados distintos. Cabe a ele, no exercício de uma atividade de índole valorativa e decisória, resolver as conflitualidades intrínsecas da norma, que se manifestam nos planos linguístico, valorativo, teleológico e operativo, de modo a atribuir um significado ao significante interpretado. Somente ao fim desse processo a norma será individualizada.
Volvendo ao plano linguístico, observa-se que a emissão e o entendimento da comunicação são fenômenos distintos, embora sucessivos.[15] Afinal, emissor e receptor, por refletirem individualidades distintas, podem, ou não, convergir a respeito da mensagem veiculada. Uma das interferências mais comuns nesse processo se materializa nas distorções, resultantes de imperfeições na interpretação e consequente compreensão da mensagem transmitida,[16] podendo assumir contornos extrínsecos ou intrínsecos. O primeiro grupo congrega as causas de natureza extrínseca, que delineiam a influência exercida pelo contexto, o perfil do intérprete e como se conduzirá no curso do processo de interpretação. Já o segundo grupo alberga as causas de natureza intrínseca, que podem ser reconduzidas aos aspectos estruturais de qualquer linguagem convencional, o léxico e a gramática.[17] O léxico alcança a totalidade dos signos linguísticos da língua, merecendo especial realce a sua conexão com distintos aspectos da realidade, representando-os, o que engloba os seus aspectos semânticos.[18] A gramática tanto diz respeito à morfologia, vale dizer, à estruturação dos signos linguísticos a partir de letras e símbolos, como à sintaxe, indicando a combinação desses signos em uma sentença, de modo a produzir um significado distinto daquele ostentado pelas distintas partículas que o integram.
Com os olhos voltados ao § 2º do art. 130-A da Constituição de 1988, que faz referência ao “controle administrativo e financeiro do Ministério Público”, centraremos nossa atenção nas interferências associadas a razões semânticas, que podem decorrer de (1) flexibilidade (2) ambiguidade ou (3) vagueza do enunciado linguístico interpretado.
A “prodigiosa riqueza e flexibilidade da linguagem”[19] permite que de um mesmo enunciado linguístico se obtenha significados distintos, não raro com um significado central, de uso comum, e extensões metafóricas ou figurativas facilmente alcançáveis, ou não, pelos interlocutores.[20] Trata-se de consequência que decorre da impossibilidade lógica de se dispor de uma palavra para cada ideia ou objeto específico.[21] A “fluidez da linguagem”, em verdade, pode ser vista como o seu principal atributo, permitindo que, a partir de uma pluralidade de significados em potencial, seja alcançado, de acordo com as peculiaridades do contexto em que será utilizado, um significado particular.
A ambiguidade, em sentido amplo, indica as dúvidas surgidas na comunicação entre dois interlocutores ou a dúvida existente quanto à aplicação, ou não, de um termo. Em um plano mais restrito, define a característica semântica ou sintática que vincula uma pluralidade de significados a um único significante.[22] Nesse último sentido, o enunciado linguístico somente será considerado ambíguo quando se enquadrar na “regra da pessoa razoável” (“reasonable person rule”), vale dizer, quando duas pessoas razoavelmente bem informadas puderem atribuir-lhe dois ou mais significados.[23] É possível falar, sob essa perspectiva, em “desacordo razoável” (“reasonable disagreement”),[24] particularmente frequente em relação ao significado de signos linguísticos que apresentem intensa permeabilidade aos influxos axiológicos (v.g.: dignidade humana, vida etc.). Excluem-se os significados absurdos, possivelmente amparados pela letra, mas rechaçados pelo referencial de racionalidade. Na medida em que uma única unidade significante pode conduzir a uma pluralidade de significados, resultado passível de ser alcançado com o regular emprego da linguagem ordinária ou, de modo mais intenso, com a utilização de metáforas, a comunicação somente se tornará compreensível com o concurso de fatores extrínsecos que permitam identificar o sentido adequado à ideia ou ao objeto que une os interlocutores.
Observa-se que a ambiguidade no plano lexical tende a se expandir ou retrair conforme as características do texto em que o enunciado linguístico esteja inserido. Nesse caso, a diversidade de significados decorre não propriamente da construção sintática do texto, mas, sim, da influência que os enunciados exercem uns sobre os outros. Certos signos podem se tornar unívocos ou ambíguos a depender do seu entorno linguístico ou, mesmo, das características fáticas subjacentes ao momento em que são empregados. Em ambos os casos, será flagrante a influência de fatores extrínsecos, puramente linguísticos ou fáticos, no delineamento do respectivo significado. Essa influência é facilmente perceptível quando signos de acentuada ambiguidade têm sua aplicação associada a outros dotados de maior especificidade, que delimitam o seu alcance e terminam por reduzir o universo de significados que se lhes pode atribuir.
Diversamente da ambiguidade, que guarda correlação com “pluralidade de significados”, a vagueza está associada ao “limite do significado”,[25] vale dizer, o enunciado linguístico é conhecido, mas há divergências quanto aos seus limites, o que enseja dificuldades na delimitação de sua aplicação (rectius: na individualização das situações a que se refere).[26] Identificar a extensão desse sentido mostra-se indispensável ao perfeito delineamento da conexão entre enunciado e realidade.[27] A presença de casos típicos, que preenchem as características e propriedades referidas pela comunicação, não exclui a possibilidade de surgimento de casos atípicos, em que tais fatores se apresentam de modo apenas parcial ou, mesmo, acompanhados de fatores adicionais, daí decorrendo um estado de divergência quanto à incidência da expressão tida como vaga.[28]
As interferências no processo de comunicação, quando contextualizadas no âmbito do Estado de Direito, ensejam não poucas dúvidas em relação à natureza e aos limites dos poderes outorgados às estruturas estatais de poder, daí decorrendo o risco do excesso ou da leniência. Em relação ao Conselho Nacional do Ministério Público a situação não é diferente. Afinal, é grande a dificuldade enfrentada pelo órgão no delineamento do potencial expansivo do controle realizado e na necessária preservação da liberdade valorativa das instituições controladas. Daí ser necessário identificar o significado do controle e as interferências normalmente enfrentadas nesse processo.
3. O “controle” e seus significados
Controle deriva do francês contrôle, contração de contrerole, indicando um registro feito em duplicidade.[29] Além desse significado base, que aponta para a verificação de um ato ou fato, praticado pelo próprio agente ou por outrem, daí decorrendo uma dada conclusão, formou-se uma diversidade de significados, como o poder de governar, exercendo o domínio sobre outros, a capacidade de se manter adstrito à razão, demonstrando um elevado autocontrole, ou o mecanismo responsável pelo acionamento de um objeto, colocando-o em operação. Como a nossa análise está circunscrita ao § 2º do art. 130-A da Constituição de 1988, permaneceremos adstritos ao significado base.
O controle pode ser analisado sob o prisma do controlador ou da atividade desenvolvida. No primeiro caso, analisaremos a (1) posição e a (2) natureza do controlador. No segundo, a (3) natureza, (4) o objeto e a (5) amplitude do controle.
3.1. A posição do controlador
O órgão responsável pela realização do controle tanto pode estar inserido na mesma estrutura estatal do órgão controlado, como ser estranho a ela. No primeiro caso fala-se em controle interno, no segundo em contorno externo.
O denominado controle interno encontra o seu alicerce de sustentação na autonomia existencial de uma dada estrutura estatal e no princípio hierárquico. Enquanto a autonomia indica a capacidade de se direcionar de acordo com suas próprias decisões, a hierarquia direciona o processo de formação dessas decisões.
A divisão de competências no âmbito de uma estrutura estatal define os limites de atuação dos seus órgãos e indica que os atos praticados serão a ela imputados. Esses órgãos podem manter entre si uma “relação de equiordenação, supra ou infra-ordenação”,[30] o que significa dizer que podem estar horizontalizados ou verticalizados, nesse último caso com a existência de uma hierarquia entre eles. É factível que o controle interno pode ser exercido por ambos.
Tratando-se de órgãos verticalizados, é técnica basilar de organização administrativa que o órgão supra-ordenado pode rever ou anular os atos praticados pelo órgão infra-ordenado: é revisto o que não se ajusta a critérios de conveniência e oportunidade, anulado o que destoa da juridicidade. Ainda que o órgão supra-ordenado, que pode ser a autoridade máxima da estrutura estatal ou agente delegado, não tenha o dom da ubiquidade, o que afasta a possibilidade de ser responsabilizado por todo e qualquer ato praticado pelos órgãos infra-ordenados, caso tome conhecimento de uma injuridicidade, terá o dever jurídico de anular o ato praticado, isso sob de praticar uma infração penal ou um ato de improbidade administrativa. Quanto ao poder de revogar, tem-se uma faculdade de agir, que pode, ou não, se exercida.
Quando o controle interno é exercido por um órgão “equiordenado” aos demais, a sua função primordial, regra geral, será a de detectar a injuridicidade, com posterior provocação do órgão supra-ordenado, que valorará os argumentos apresentados e decidirá pela anulação ou revogação do ato. Órgãos dessa natureza estão previstos no art. 74 da Constituição de 1988, tendo a função precípua de avaliar a gestão orçamentária, financeira e patrimonial da respectiva estrutura estatal em que inseridos e de apoiar o controle externo. Nada impede, no entanto, que sua atuação tenha contornos mais amplos, aferindo a juridicidade de todo e qualquer ato praticado, principalmente daqueles que influam sobre a esfera jurídica individual. Nesse particular, vale lembrar que o art. 5º, XXXIV, a, da Constituição de 1988 assegurou a todos “o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder”. Nada mais natural, portanto, que exista um órgão de controle interno responsável por evitar ou, de imediato, contornar, a prática de ilegalidade ou abuso de poder.
Diversamente do controle interno, ontologicamente amplo, o controle externo é necessariamente restrito, somente se desenvolvendo nos limites estabelecidos pela ordem jurídica. A justificativa, aliás, é tão simples como a conclusão: na medida em que a ordem constitucional acolheu o princípio da divisão das funções estatais, apregoando a sua independência e harmonia, e assegurou a autonomia de algumas instituições, como o Ministério Público, é factível que qualquer intervenção exógena há de ser restrita, desenvolvendo-se, apenas, nos limites do autorizado.
A ideia de controle externo encontra sua gênese no princípio da divisão das funções estatais, indicando que, apesar de as distintas estruturas estatais de poder estarem em posição de igualdade, não sendo divisada qualquer hierarquia ou absorção, é possível a existência de uma relação de dependência entre elas nas hipóteses indicadas na ordem constitucional, o que tem por objetivo estabelecer condicionamentos recíprocos de modo a preservar o equilíbrio institucional e a obstar o surgimento do arbítrio. No sistema brasileiro, essas estruturas de poder recebem a denominação de Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário,[31] o que prestigia a clássica divisão de Montesquieu.
Sob a ótica da posição do controlador, é possível afirmar que o Conselho Nacional do Ministério Público, por não estar inserido na estrutura do Ministério Público da União ou dos Ministérios Públicos dos Estados, ausente, portanto, o referencial de hierarquia, realiza um controle externo.
3.2. A natureza do controlador
A clássica tripartição do poder, não obstante as críticas que têm recebido na contemporaneidade, já que a proliferação de estruturas estatais autônomas, como o Ministério Público, tem inviabilizado a sua inserção em um dos três arquétipos básicos, aos quais não estão vinculadas e muito menos subordinadas, ainda mantém a sua utilidade na compreensão da natureza do controlador.
A divisão das funções estatais, como é sabido, está lastreada em dois referenciais básicos: o funcional e o orgânico. O primeiro indica a natureza das funções exercidas pelo Estado, o segundo a impossibilidade de um mesmo órgão cumulá-las. Adotando-se uma perspectiva funcional, à função legislativa compete a formação do direito (rule making), enquanto que às funções executiva (rectius: administrativa) e judicial é atribuída a sua realização (law enforcement). Apesar de ser inegável a constatação de que estas duas últimas funções executam a norma, o Judiciário a aplica em caráter definitivo. Sob o prisma orgânico, podemos afirmar que essas funções serão primordialmente exercidas pelos denominados Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.[32] É importante observar, ainda, que todos, indistintamente, exercerão atividades administrativas, já que a própria operacionalização de sua atividade fim, como ocorre em relação aos Poderes Legislativo e Judiciário, carece de uma organização que a viabilize.
Como todas as estruturas estatais possuem uma organização administrativa, todas possuirão órgãos de controle interno, que necessariamente terão natureza administrativa. Já em relação ao controle externo, a natureza do controlador não destoará de sua ontologia, que continuará a ser de Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário. O Tribunal de Contas, apesar de colaborar com o Poder Legislativo, é Instituição autônoma de controle externo, de natureza administrativa, que realiza, de fato, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das instituições controladas.
Ressalte-se que a natureza do controlador, que reflete a atividade fim por ele desenvolvida, nem sempre guardará similitude com a natureza do controle realizado no caso concreto, o que será objeto de maior desenvolvimento no item subsequente.
Considerando que o Conselho Nacional do Ministério Público não está inserido nos Poderes Executivo, Legislativo ou Judiciário, isso pela singela razão de ter autonomia própria e não estar sujeito ao controle ou à supervisão dessas estruturas de poder, é preciso identificar qual a sua natureza jurídica. E, aqui, não parece haver maior espaço para dúvidas. Como esse órgão não julga e muito menos legisla, é nítida a sua natureza administrativa. Ao exercer o controle externo das distintas instituições autônomas que integram o Ministério Público brasileiro, o Conselho Nacional do Ministério Público o faz na condição de órgão administrativo.
3.3. A natureza do controle
Se a tripartição do poder, em seus contornos clássicos, evidencia a existência dos denominados Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, esse designativo, à evidência, está associado à natureza da atividade fim primordialmente realizada por esses órgãos. Assim, com escusas pela tautologia, podemos afirmar que o Legislativo legisla, o Executivo administra e o Judiciário julga.
Como dissemos, todos os Poderes, indistintamente, carecem de uma organização administrativa que viabilize o seu funcionamento. Logo, todos praticarão atos administrativos e poderão rever esses atos. Na medida em que o controle interno decorre das noções de autonomia existencial e hierarquia administrativa, é possível concluir que ele sempre terá natureza administrativa.
No que diz respeito ao controle externo, maiores controvérsias surgirão. O Executivo, ainda que seus atos assumam um viés político (v.g.: com o veto a projeto de lei aprovado pelo Legislativo), sempre praticará atos de natureza administrativa no âmbito das atividades de controle. O Judiciário, do mesmo modo, ao apreciar os atos praticados pelas demais estruturas de poder, sempre emitirá, no exercício desse controle externo, provimentos de natureza jurisdicional. Com o Legislativo, no entanto, a situação é diversa.
O Poder Legislativo, no exercício do controle externo, também pratica atos de natureza administrativa e jurisdicional. Basta lembrarmos a competência para fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta (CR/1988, art. 49, X) e para julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade (CR/1988, arts. 51, I e 52, I).
O Conselho Nacional do Ministério Público é órgão administrativo que deve cumprir os comandos normativos delineadores de sua atuação, fazendo-o em caráter não-definitivo, isso em razão do princípio da infastabilidade da tutela jurisdicional. Assim, ao exercer o controle externo, pratica atos, de alcance geral ou concreto, de natureza administrativa.
3.4. O objeto do controle
Qualquer que seja o controle realizado, interno ou externo, a natureza do órgão responsável pela sua realização e a natureza dos atos praticados, é factível que ele sempre recairá sobre um objeto específico.
Tratando-se de controle interno, o objeto será um ato administrativo, unilateral ou não, que terá seus elementos aferidos, em um primeiro momento, à luz de um referencial de juridicidade, e, em um segundo momento, consoante critérios de conveniência e oportunidade, podendo, inclusive, ser revogado. Essa competência, na medida em que lastreada no princípio hierárquico, há de ser exercida por um órgão supra-ordenado.
No que diz respeito ao controle externo, a divisão das funções estatais e a autonomia funcional assegurada a algumas Instituições, como o Ministério Público, indicam que ele não poderá recair sobre os atos tipicamente funcionais, que refletem a atividade fim da estrutura estatal controlada. Essa regra, à evidência, estará sujeita às exceções contempladas pela Constituição, que não são poucas. À guisa de ilustração, observa-se que as leis aprovadas pelo Poder Legislativo estão sujeitas ao controle de constitucionalidade realizado pelo Judiciário (arts. 97, 102, I, a e 125, § 2º) e os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar podem ser sustados pelo Legislativo (art. 49, V).
Especificamente em relação ao Conselho Nacional do Ministério Público, o § 2º do art. 130-A da Constituição de 1988 restringe o seu controle à “atuação administrativa e financeira do Ministério Público” e aos “deveres funcionais de seus membros”. No âmbito da atuação funcional propriamente dita, prevalecerá, em toda a sua plenitude, o princípio da independência funcional, assegurado pelo § 1º do art. 127.
3.5. A amplitude do controle
Como já afirmamos, em termos de amplitude, o controle interno e o controle externo apresentam sensíveis distinções quando cotejados entre si. Enquanto o primeiro é ontologicamente amplo, sendo intuitiva a conclusão de que a própria estrutura estatal deve delinear a sua vontade final, o segundo é necessariamente restrito. Afinal, caminha em norte contrário à divisão das funções estatais e à autonomia que a ordem constitucional assegurou a certas instituições, como o Ministério Público. Em verdade, controle externo amplo e irrestrito é a antinomia suprema a qualquer referencial de independência e autonomia existencial.
O controle externo, como limitador da independência e da autonomia, somente pode se desenvolver com observância dos limites estabelecidos pela ordem jurídica. E, aqui, o padrão sistêmico encampado pela ordem constitucional brasileira se baseia na dicotomia existente entre juridicidade e liberdade valorativa.
No Estado de Direito contemporâneo, a adequação do ato à norma deixou de ser vista sob um prisma meramente formal – que equivalia à concepção clássica de legalidade – passando a ser perquirida a sua correspondência aos valores que conduzem à concreção da própria noção de Direito. Daí se falar em legalidade substancial, o que pressupõe um juízo de valoração da essência do ato, com a sua consequente legitimação à luz dos vetores do Estado de Direito. Com a constitucionalização dos princípios, que terminaram por normatizar inúmeros valores de cunho ético-jurídico, a concepção de legalidade cedeu lugar à noção de juridicidade,[33] segundo a qual a atuação do Estado deve estar em harmonia com o Direito, afastando a noção de legalidade estrita – com contornos superpostos à regra –, passando a compreender regras e princípios.
A concepção de juridicidade absorve as regras e princípios regentes da atividade estatal, com especial ênfase para aqueles contemplados no art. 37 da Constituição de 1988. O controle externo, portanto, é direcionado à aferição da adequação do ato à ordem jurídica.
A liberdade valorativa, por sua vez, é tradicionalmente estudada, pela doutrina especializada, no âmbito da discricionariedade administrativa. Face à evidente impossibilidade de a norma definir, previamente, todos os contornos do ato a ser praticado, sempre suscetível aos influxos recebidos do contexto, é natural que, em certas situações, seja conferida uma liberdade mais ampla à autoridade competente. Com isso, permite-se uma melhor valoração das circunstâncias subjacentes ao caso concreto, em especial as de cunho temporal, local e pessoal, daí resultando a possibilidade de ser obtida a melhor solução para o caso. Essa atividade valorativa conduzirá à escolha, entre dois ou mais comportamentos possíveis, do mais adequado à situação concreta e à satisfação do interesse público.[34] Para tanto, na célebre lição de Gianini,[35] a autoridade administrativa deve proceder à “ponderação comparativa dos vários interesses secundários (públicos, coletivos ou privados), em vista a um interesse primário”, sendo esta a essência da discricionariedade. O interesse público primário a ser satisfeito não se identifica com o interesse de um ramo da Administração ou mesmo com o subjetivismo da autoridade responsável pela prática do ato, mas, sim, com a comunidade em sua inteireza.[36]
Discricionariedade, no entanto, não se identifica com arbitrariedade. Discricionário é o poder outorgado às autoridades administrativas de escolher, entre dois ou mais comportamentos possíveis, omissivos ou comissivos, estando todos em harmonia com a juridicidade, aquele que, na situação concreta, seja mais adequado aos fins visados pela norma. Arbitrário, por sua vez, será o ato que resulte de uma escolha não amparada pela juridicidade.
Como a competência de controle que a ordem constitucional outorgou ao Conselho Nacional do Ministério Público há de coexistir com autonomia das Instituições controladas, é evidente que a liberdade valorativa das últimas não pode ser suprimida. Portanto, apesar da vagueza semântica do signo “controle”, regra geral, o seu limite não pode ser estabelecido a jusante da juridicidade.
De modo correlato à regra geral, não pode passar despercebido que a ordem constitucional outorgou ao Conselho Nacional do Ministério Público uma competência que, em sentido lato, pode ser concebida como verdadeira exceção. Trata-se da competência para receber, conhecer ou rever as reclamações contra membros, órgãos e servidores da Instituição, de modo a aplicar as sanções administrativas cabíveis (CR/1988, art. 130-A, § 2º, III e IV). Como o preceito trata da aplicação de sanções, a referência a “órgãos” tem a finalidade de evidenciar a lotação do agente e a possibilidade dele ser removido, não indicando propriamente o poder de livre revisão dos atos praticados pelos órgãos de administração ou de execução do Ministério Público.
Nesse caso, o órgão de controle externo vai substituir-se à instituição controlada na aferição da reprimenda mais adequada ao caso, o que, consoante entendimento há muito sedimentado na jurisprudência, assegura certa liberdade valorativa para o órgão administrativo. Ao Poder Judiciário será vedada a ingerência na escolha da sanção aplicável, dentre as cominadas, na sua dosimetria e na aferição da conveniência e oportunidade de sua aplicação. No entanto, incidirá aqui o critério de proporcionalidade, não sendo permitido ao órgão de controle, distanciando-se da própria ratio da previsão normativa, aplicar sanção que se mostre excessivamente severa em relação ao ilícito praticado.[37]
Para melhor ilustrar a exposição, analisaremos uma situação específica, que bem reflete a dificuldade enfrentada pelo Conselho Nacional do Ministério Público na identificação dos limites do controle realizado. Trata-se do exercício do poder regulamentar a que se refere o inciso I do § 2º do art. 130-A da Constituição de 1988.
3.5.1. O exercício do poder regulamentar e o objetivo de uniformizar o Ministério Público brasileiro
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 45/2004 e posterior instalação do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, logo surgiram os debates em torno do alcance do poder regulamentar desses órgãos. Pouco tardou até que a questão, consubstanciada em um caso verdadeiramente paradigmático, o combate ao nepotismo, chegasse ao Supremo Tribunal Federal. As circunstâncias, aliás, são bem conhecidas. O Conselho Nacional de Justiça, com amplo e irrestrito apoio da opinião pública, editou a Resolução nº 7, que proscrevia o nepotismo no âmbito do Poder Judiciário. Essa medida moralizadora foi desautorizada por vários tribunais do País, motivando o ajuizamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade, que foi tombada sob o nº 12, sendo relator o eminente Ministro Carlos Ayres Britto. Ao julgá-la, o Tribunal, conquanto suscitado o argumento de que a prática do nepotismo seria diretamente vedada pela Constituição da República, sendo desnecessária a mediação legislativa, entendeu que o Conselho Nacional de Justiça estava autorizado a editar atos normativos com o fim de proibir referida prática.[38]
A partir do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, ambos os Conselhos editaram atos normativos em profusão, não raro destoando de normas infraconstitucionais ou, mesmo, editando-as, como se legisladores fossem.[39] Não obstante isto, a questão relativa aos limites do seu poder regulamentar não voltou a ser submetida à apreciação do Tribunal. Dentre as inúmeras abordagens passíveis de serem realizadas para demonstrar o equívoco do entendimento aparentemente sedimentado, centraremos nossa atenção em uma prática recorrente, no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, consistente na edição de atos normativos com o objetivo de uniformizar o Ministério Público brasileiro.[40]
Discussões em torno da uniformização das distintas estruturas de poder que integram o Ministério Público ou, o que é mais comum, a adequação dos vinte e seis Ministérios Públicos Estaduais ao paradigma de análise oferecido pelo Ministério Público da União, são temas recorrentes no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público. O debate costuma ser alimentado pelas similitudes existentes entre o Ministério Público e o Poder Judiciário, este último caracterizado pela existência de um regime jurídico uniforme para todos os seus membros, o que torna a tentativa de uniformização, aos olhos de muitos, um fim a ser sempre perseguido em ambas as estruturas orgânicas.
Com os olhos voltados ao Poder Judiciário, observa-se, consoante o art. 92 da Constituição de 1988, que o Conselho Nacional de Justiça está inserido em sua estrutura orgânica. Isso, no entanto, não obsta seja considerado um verdadeiro órgão de controle externo. Para tanto, basta que o paradigma de análise seja deslocado do Poder Judiciário, no qual está inserido, para as estruturas controladas e que gozam de autonomia administrativa. Nessa linha, com os olhos voltados a cada um dos tribunais existentes, o controle será, de fato, externo. O único tribunal que escapa a esse controle, até porque competente para apreciar as ações ajuizadas em face do Conselho Nacional de Justiça, é o Supremo Tribunal Federal.[41]
Outro ponto digno de nota é que o Poder Judiciário é regido por uma única lei orgânica, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal e cognominada, pelo art. 93, caput, da Constituição, de “Estatuto da Magistratura”. Em consequência, não obstante a inserção desse Poder no âmbito de um Estado Federal, em que o Estado-membro, em suas estruturas orgânicas, conta com órgãos jurisdicionais, somente a União pode legislar sobre a matéria. Os Tribunais de Justiça carecem de poder de iniciativa e as Assembleias Legislativas não podem incursionar nessa temática. Esse é um dos aspectos mais característicos da unidade do Poder Judiciário brasileiro.
Essas características existenciais do Poder Judiciário, como é possível antever, apresentam distinções substanciais quando transpostas para o Ministério Público.
Em um primeiro plano, observa-se que o Conselho Nacional do Ministério Público, embora seja um órgão tipicamente federal, mantido, portanto, pela União, não está inserido na estrutura do Ministério Público afeto a esse ente federado. É um órgão essencialmente externo, que controla tanto o Ministério Público da União, como os congêneres estaduais.
Apesar de o art. 127, § 1º, da Constituição de 1988 considerar a unidade um princípio institucional do Ministério Público, essa unidade é sensivelmente distinta daquela que caracteriza o Poder Judiciário. Esse último é organizado a partir de um referencial de verticalidade, de modo que, principiando pela base, há sempre um órgão superior capaz de rever as decisões proferidas pelo órgão inferior, até que, alcançado o plano mais elevado, ocupado pelo Supremo Tribunal Federal, as decisões não são passíveis de serem revertidas por qualquer outro órgão. Acresça-se que o Presidente desse Tribunal é a maior autoridade do Poder Judiciário brasileiro, já que preside o órgão que se encontra no ápice do escalonamento funcional.
A unidade do Ministério Público, por sua vez, se desenvolve em um plano de horizontalidade. Em outras palavras, não há qualquer relação de hierarquia ou subordinação entre as distintas estruturas que integram o Ministério Público da União e os congêneres estaduais, acrescendo-se que o Procurador-Geral da República não é o Chefe do Ministério Público brasileiro. Chefia, apenas, o Ministério Público da União e o Ministério Público Federal. Todas as Instituições se equivalem quando cotejadas entre si, mas cada qual exerce as atribuições que a ordem jurídica lhe outorgou sem ser influenciada pelas demais. Há, no entanto, verdadeira unidade sob a ótica funcional, sendo possível falar em um único Ministério Público, já que a Instituição, por intermédio de cada um de seus ramos, desempenha, no seu âmbito de atuação, as funções institucionais que lhe foram atribuídas pelo texto constitucional. É justamente o princípio da unidade que legitima a atuação do Ministério Público Federal, junto aos Tribunais Superiores, nas ações ajuizadas pelos Ministérios Públicos Estaduais, ou mesmo naquelas em que intervieram no âmbito da Justiça Estadual. Não fosse assim, não poderia ser suprimida a atuação dos órgãos estaduais.
Diversamente ao que se verifica em relação ao Poder Judiciário, que conta com um “Estatuto da Magistratura”, de iniciativa do seu órgão de cúpula, o Ministério Público não possui um “Estatuto do Ministério Público Brasileiro” e muito menos um órgão de cúpula que possa propô-lo ao Poder Legislativo. Nesse particular, a distinção é nítida. E qual foi a técnica adotada pela Constituição de 1988? Entre os extremos da unidade normativa, sujeitando o Ministério Público Brasileiro a uma única e mesma lei, e da total ausência de regramentos comuns, optou por uma via intermédia. Em outras palavras, apesar de o Ministério Público da União e cada Ministério Público Estadual contar com a sua própria Lei Orgânica, foi estabelecido que os últimos deveriam permanecer adstritos aos balizamentos oferecidos pelas normas gerais editadas pela União. A Constituição de 1988, no auge de sua unidade hierárquico-normativa, dispôs que seriam de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que tratassem da organização do Ministério Público da União, facultada igual iniciativa ao Procurador-Geral da República, ou que veiculassem normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados (arts. 61, § 1º, II, d; e 128, § 5º). Acresceu, ainda, que leis complementares da União e dos Estados, observadas, em relação aos últimos, as normas gerais veiculadas pela União, estabeleceriam a “organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público” (art. 128, § 5º). Com isso, todo e qualquer ramo do Ministério Público teria uma lei complementar que o regeria. É perceptível, desse modo, que o sistema constitucional reconheceu a diversidade como uma característica inerente ao Ministério Público. Com os olhos voltados às instituições estaduais, é possível afirmar que só há uniformidade em relação às matérias em que a norma geral assim o desejou.
A partir dessas premissas, é possível afirmar que o objetivo do Conselho Nacional do Ministério Público, em relação aos Ministérios Públicos Estaduais, jamais pode ser o de estabelecer uma “uniformidade deformante”. E isso por uma razão muito simples: a alegada uniformidade somente será alcançada se for alargado o alcance da norma geral editada pela União, que deve ser necessariamente veiculada em lei, de iniciativa privativa do Presidente da República. Conclui-se, desse modo, que a “uniformização” será alcançada à custa da “deformação” da ordem constitucional.
É possível afirmar que a uniformização é um objetivo natural em relação ao Poder Judiciário, estrutura verticalizada e regida por uma única lei orgânica. Não o é, no entanto, para o Ministério Público. Ainda que não o seja sob o prisma ôntico, não é de se excluir, ao menos no plano argumentativo, a possibilidade de a União ampliar de tal modo as normas gerais que venha a reduzir, consideravelmente, a liberdade de conformação do legislador estadual. O que não nos parece possível é que o Conselho Nacional do Ministério Público, absorvendo competências próprias do Presidente da República e do Congresso Nacional, venha a ampliar o rol de “normas gerais” e, consequentemente, reduzir o alcance das leis complementares que regem cada uma das Instituições estaduais.
Volvendo à nossa temática principal de análise, observa-se que o poder regulamentar do Conselho Nacional do Ministério Público deve ser exercido de modo a “zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público”, o que resulta do comando inserido na parte inicial do inciso I do § 2º do art. 130-A da Constituição de 1988. Além disso, como o controle (externo) da atuação administrativa e financeira deve, necessariamente, permanecer adstrito à juridicidade, pode-se afirmar que o Conselho afrontará a Constituição tanto ao substituir-se à Instituição controlada em uma situação concreta, revogando o ato praticado com base em sua liberdade valorativa, como ao editar um ato normativo geral que impeça o próprio aflorar dessa liberdade, uniformizando aquilo que, por imperativo constitucional, deveria projetar a autonomia de cada Instituição.
Epílogo
A conhecida sentença de Lord Acton, “power tends to corrupt; absolute power tends to corrupt absolutely” é daquelas máximas que tendem a acompanhar a humanidade em toda a sua evolução, daí o relevante papel desempenhado pelos órgãos de controle externo em um Estado de Direito. É necessária uma elevada dose de serenidade e autocontenção para que controladores não absorvam controlados, pois também aqui, como se disse, “o poder tende a corromper...”. O grande desafio do Conselho Nacional do Ministério Público é zelar, de modo intenso e visceral, pela observância da juridicidade por parte das Instituições controladas, isso sem chegar ao extremo de absorver juízos valorativos de competência alheia.
[1] No período colonial, com a criação, na Bahia, do Tribunal de Relação do Brasil, o Alvará de 7 de março de 1609 fez alusão ao Procurador dos feitos da Coroa, Fazenda e Fisco, que perante ele oficiaria. Esse quadro permaneceu inalterado com o surgimento do Império. A Constituição de 1824 dispôs, em seu art. 48, situado no Capítulo “Do Senado”, que “[n]o juízo dos crimes, cuja acusação não pertence à Câmara dos Deputados, acusará o procurador da Coroa e Soberania Nacional”. O art. 163, por sua vez, determinou a criação do Supremo Tribunal de Justiça e dos Tribunais da Relação, sendo que, para funcionar junto a eles, era nomeado um de seus membros, que recebia a denominação de Procurador da Coroa.
[2] Cf. GARCIA, Emerson. A Autonomia do Ministério Público: entre o seu Passado e o seu Futuro, in Revista Prática Jurídica nº 80, p. 31, 2008.
[3] Cf. GARCIA, Emerson. A Autonomia Financeira do Ministério Público, in Revista dos Tribunais nº 803, p. 59, 2002.
[4] Cf. GARCIA, Emerson. Conselho Nacional do Ministério Público: Primeiras Impressões, in Revista Forense nº 379, p. 673 - Suplemento, 2005.
[5] Cf. PHILLIPS, Alfred. Lawyer’s language: how and why legal language is different, London and New York: Routledge, 2003, p. 23.
[6] Também se pode falar em “linguagens setoriais” para designar as linguagens utilizadas em ambientes específicos (v.g.: linguagem penal, constitucional etc.). Cf. VIOLA, Francesco e ZACCARIA, Giuseppe. Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto. 6ª ed., Roma: Laterza, 2009, p. 278 e ss..
[7] Cf. TROSBORG, Anna. Rhetorical strategies in legal language: discourse analysis of statutes. Tübingen: Günter Narr Verlag, 1997; NIELSEN, Sandro. The bilingual LSP dictionary: principles and practice for legal language. Tübingen: Günter Narr Verlag, 1994, p. 34-35; PEARSON, Jennifer. Terms in context, vol. 1 de Studies in corpus linguistics. The Netherlands: John Benjamins Publishing Company, 1998, p. 7; e SOURIOUX, Jean-Louis e LERAT, Pierre. Le langage du droit. Paris: Presses Universitaires de France, 1975, p. 9.
[8] Cf. COULTHARD, Malcolm e JOHNSON, Alison. An introduction to forensic linguistics: language in evidence, New York: Routledge, 2007, p. 50.
[9] Cf. WROBLEWSKI, Jerzy, BÁNKOWSKI, Zenon e MACCORMICK, Neil. The judicial application of Law, Vol. 15 de Law and philosophy library. Springer: The Netherlands, 1992, p. 97.
[10] Cf. MORETAU, Olivier. Le raisonnable et le droit: standards, prototypes et interprétation uniforme, in JLI (Reasonableness and interpretation). Münster: LIT Verlag, 2003, p. 221 (223).
[11] Na visão de Soler, ser compreendida, pelos destinatários, com abstração de sua condição social, é o primeiro objetivo de qualquer norma (Fé en el Derecho y otros ensayos, Buenos Aires: T.E.A., 1956, p. 129-130).
[12] Cf. PENSOVECCHIO LI BASSI, Antonino. L’Interpretazione delle Norme Costituzionali. Natura, Metodo, Difficoltà e Limiti, Milano: Dott. A. Giuffrè Editore, 1972, p. 77-78.
[13] Opera aperta: forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee. Milano: Bompiani, 1993, p. 34.
[14] GOMES CANOTILHO, J. J.. Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador, Contributo para a Compreensão das Normas Constitucionais Programáticas. 2a ed., Coimbra: Coimbra Editora, 2001, p. 59.
[15] Cf. ASCOLI, Max. La Interpretazione delle Legi. Saggio di Filosofia del Diritto. Roma: Athenaeum, 1928, p. 19.
[16] Cf. MATTILA, Heikki E. S.. Comparative Legal Linguistics. Hampshire: Ashgate Publishing, 2006, p. 34.
[17] Cf. JACKSON, Bernard S.. Semiotics and legal theory. London: Routledge, 1987, p. 33.
[18] Cf. GALVAN, S. Über den Begriff von Möglich Welt in den Anwendungen der Modal Logik, in DI BERNARDO, Giuliano. Normative structures of the social world. Amsterdam: Rodopi, 1988, p. 65 (71).
[19] CARRIÓ. Notas sobre Derecho y Lenguaje. 5ª ed.. Buenos Aires: Abeledo-PerrotLexisNexis, 2006, p. 19.
[20] CARRIÓ. Notas sobre Derecho..., p. 93.
[21] Cf. LOCKE, John. Ensaio sobre o Entendimento Humano (An Essay Concerning Human Understanding), vol. II. Trad. de SOVERAL, Eduardo Abranches. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999, p. 553.
[22] Cf. LÖBNER, Sebastian. Semantik: eine Einführung. Berlin: Walter de Gruyter, 2003, p. 53.
[23] Cf. WILSON, Willian. Fact and Law, in NERHOT, Patrick. Law, Interpretation and Reality. Essays in Epistemology, Hermeneutics and Jurisprudence. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1990, p. 11 (21).
[24] Cf. GOLDMAN, Alvin I.. Epistemic Relativism and Reasonable Disagreement, in FELDMAN, Richard e WARFIELD, Ted A.. Disagreement. Oxford: Oxford University Press, 2010, p. 187 (203 e ss.).
[25] Cf. MODUGNO, Franco. Interpretazione Giuridica. Padova: CEDAM, 2009, p. 111.
[26] Cf. WILLIAMSON, Timothy. Vagueness. New York, Routledge, 1994, p. 36 e ss..
[27] Cf. SOURIOUX, Jean-Louis e LERAT, Pierre. Le langage du droit. Paris: Presses Universitaires de France, 1975, p. 59.
[28] Cf. CARRIÓ. Notas sobre Derecho..., p. 32. Os casos típicos estão numa zona de intensa luminosidade, não havendo dúvidas quanto à incidência do signo linguístico utilizado. No extremo oposto, há uma zona de obscuridade, não havendo dúvidas quanto à não incidência do signo nessa seara. Por fim, conclui o autor que “[e]l tránsito de una zona a outra es gradual; entre la total luminosidad y la oscuridad total hay una zona de penumbra sin limites precisos” (op. cit., p. 33-34). Como ressalta Hart, a distinção entre o “caso-padrão nítido ou paradigma” e os “casos discutíveis”, algumas vezes, é apenas uma questão de grau (v.g.: quanto cabelo uma pessoa precisa deixar de ter para ser considerada “careca”), outras vezes resulta do fato de o “caso-padrão” ser um complexo de elementos distintos, mas que costumam se apresentar de modo concomitante, o que faz que a ausência de algum deles enseje dúvidas em relação à incidência do signo linguístico [O Conceito de Direito (The Concept of Law). Trad. de RIBEIRO MENDES, A.. 3ª ed.. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 8-9].
[29] Cf. DUBOIS, J., MITTERAND, H. e DAUZART, A.. Dictionnaire d’étymologie. Paris: Larousse, 2004, p. 182.
[30] OTERO, Paulo. Conceito e Fundamento da Hierarquia Administrativa. Coimbra: Coimbra Editora, 1992, p. 33.
[31] Vide o art. 2o da Constituição de 1988, que, além da divisão tripartite, fala em harmonia e independência entre os poderes, consagrando um sistema de colaboração, com mecanismos de controle recíproco. No mesmo sentido, o art. 20, II, no 2, da Lei Fundamental alemã de 1949. A Constituição espanhola de 1978, nos arts. 117 a 127, prevê a tripartição, mas somente o Judiciário recebeu expressamente a qualificação de poder. A Constituição francesa de 1958, diversamente, somente faz menção à autoridade judiciária, cabendo ao Presidente da República garantir-lhe a independência (arts. 64 a 66). A Constituição portuguesa, em seu art. 110, fala em órgãos de soberania (Presidente da República, Assembléia da República, Governo e Tribunais), que devem observar a separação e a independência previstas na Constituição (art. 111). Não obstante a literalidade do preceito, são inúmeros os mecanismos de colaboração (v.g.: a promulgação das leis pelo Presidente da República – art. 134, b; a autorização da Assembléia da República como requisito à declaração de guerra pelo Presidente – art. 161, m; a eleição, pela Assembléia, de juízes do Tribunal Constitucional – art. 163, i; etc.).
[32] Cf. GARCIA, Emerson. Princípio da Separação dos Poderes: os Órgãos Jurisdicionais e a Concreção dos Direitos Sociais, in Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa vol. 46, nº 2, p. 955, 2005.
[33] A cunhagem do termo deve-se a Merkl, o qual incluía sob o signo do princípio da juridicidade todo o ordenamento jurídico, abrangendo os regulamentos, os princípios gerais, os costumes etc., tendo reservado a nomenclatura de princípio da legalidade unicamente à lei em sentido formal.
[34] LAGASSE, Dominique. L’Erreur Manifeste D’Appréciation en Droit Administratif, Essai sur les Limites du Pouvoir Discrétionnaire de L’Administration. Bruxelas: Etablissements Emile Bruylant, 1986, p. 367; e CRAIG, Paul. Administrative Law. 5a ed.. Londres: Sweet & Maxwell Limited, 2003, p. 521.
[35] Cf. GIANINI, Massimo Severo. Diritto Amministrativo, vol. 2o. 3a ed.. Milano: D. A. Giufrrè Editore, 1993, p. 49.
[36] Cf. VIRGA, Pietro. Diritto Amministrativo, vol. 2. 5a ed.. Dott. A. Giuffrè Editore, 1999, p. 8.
[37] Nesse sentido: STF, 1ª T., RMS nº 24.901/DF, rel. Min. Carlos Britto, DJ de 11/02/2005.
[38] Cf. GARCIA, Emerson. Poder Normativo Primário dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público: A Gênese de um Equívoco, in Revista da Associação dos Juízes Federais do Brasil, v. 23, nº 84, p.143, abr./jun. 2006.
[39] Pela sua singularidade, a Resolução nº 133/2011, do Conselho Nacional de Justiça, merece ser reproduzida: “Dispõe sobre a simetria constitucional entre Magistratura e Ministério Público e equiparação de vantagens. O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais;CONSIDERANDO a decisão do Pedido de Providências nº 0002043-22.2009.2.00.0000, que reconheceu a necessidade de comunicação das vantagens funcionais do Ministério Público Federal à Magistratura Nacional; CONSIDERANDO a simetria constitucional existente entre a Magistratura e o Ministério Público, nos termos do art. 129, § 4º, da Constituição da República, e a auto-aplicabilidade do preceito; CONSIDERANDO as vantagens previstas na Lei Complementar nº 75/1993 e na Lei nº 8.625/1993, e sua não previsão na LOMAN – Lei Orgânica da Magistratura Nacional; CONSIDERANDO a inadequação da LOMAN frente à Constituição Federal; CONSIDERANDO a revogação do art. 62 da LOMAN face ao regime remuneratório instituído pela Emenda Constitucional nº 19; CONSIDERANDO que a concessão de vantagens às carreiras assemelhadas induz a patente discriminação, contrária ao preceito constitucional, e ocasiona desequilíbrio entre as carreiras de Estado; CONSIDERANDO a necessidade de preservar a magistratura como carreira atrativa face à paridade de vencimentos; CONSIDERANDO a previsão das verbas constantes da Resolução nº 14 deste Conselho (art. 4º, I, “b”, “h” e “j”); CONSIDERANDO a missão cometida ao Conselho Nacional de Justiça de zelar pela independência do Poder Judiciário; CONSIDERANDO a decisão liminar proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Mandado de Segurança no 28.286/DF; RESOLVE: Art. 1º São devidas aos magistrados, cumulativamente com os subsídios, as seguintes verbas e vantagens previstas na Lei Complementar nº 75/1993 e na Lei nº 8.625/1993: a) Auxílio-alimentação; b) Licença não remunerada para o tratamento de assuntos particulares; c) Licença para representação de classe, para membros da diretoria, até três por entidade; d) Ajuda de custo para serviço fora da sede de exercício; e) Licença remunerada para curso no exterior;f) indenização de férias não gozadas, por absoluta necessidade de serviço, após o acúmulo de dois períodos. Art. 2º As verbas para o pagamento das prestações pecuniárias arroladas no artigo primeiro correrão por conta do orçamento do Conselho da Justiça Federal, do Tribunal Superior do Trabalho, do Superior Tribunal Militar e da dotação própria de cada Tribunal de Justiça, em relação aos juízes federais, do trabalho, militares e de direito, respectivamente. Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação”. E ainda dizem que os juízes seriam regidos por um Estatuto da Magistratura, aprovado pelo Congresso Nacional a partir de iniciativa do Supremo Tribunal Federal...
[40] Reproduziremos, em suas linhas gerais, o texto intitulado “O CNMP e o objetivo de uniformizar o Ministério Público brasileiro”, publicado na Revista MPMG Jurídico nº 23, p. 9, 2012.
[41] STF, Pleno, ADI nº 3.367/DF rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 17/03/2006.