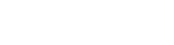A proteção dos direitos humanos tem passados por inúmeras vicissitudes na evolução da humanidade. O objetivo deste breve estudo é o de analisar o papel desempenhado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, que se apresenta como verdadeiro divisor de águas nesse processo, não tanto pela força jurídica de suas normas, mas, principalmente, pelo imperativo moral dos valores que enuncia. No mundo contemporâneo, violações massivas aos direitos humanos podem caracterizar situações de violação da paz e da segurança internacionais, justificando, inclusive, uma intervenção armada no Estado ofensor.
Sumário: 1. Aspectos introdutórios; 2. Período anterior à Declaração Universal dos Direitos Humanos; 3. O relevante papel desempenhado pelas Nações Unidas 4. Contornos gerais da Declaração Universal dos Direitos Humanos; 5. A inobservância dos direitos humanos e a violação da paz e da segurança internacionais; Epílogo.
- Aspectos introdutórios
A concepção de ser humano, enquanto individualidade biológica dotada de inteligência e racionalidade próprias, pode ser objeto de múltiplas óticas de análise quando contextualizada no âmbito do Estado de Direito, aqui concebido como macroestrutura de ordenação que emite comandos de ordem deontológica, estatuindo os deveres, e de ordem diceológica, delineando e protegendo os direitos. É nesse contexto que surgem os referenciais de personalismo e coletivismo.
O personalismo, em seus contornos mais simples, enuncia o ser humano primeiro. O indivíduo é a origem e a razão de ser do coletivo. Possui dignidade própria, sendo a preservação do seu corpo, da sua vontade e do seu espírito o objetivo de qualquer forma de organização política. Essa essencialidade primária do ser humano, no entanto, há de ser preenchida em harmonia com os vetores de ordem ideológica prestigiados pelo grupamento, o que permite lhe sejam atribuídos distintos contornos (v.g.: a liberdade primeiro;[1] o mínimo existencial primeiro etc.), que variarão consoante fatores de ordem espacial e temporal.
Ressalte-se que o racionalismo que se espraia por esse referencial de análise não abala as raízes que remontam ao cristianismo. No pensamento cristão, o fato de todos os seres humanos serem filhos de Deus,[2] tendo a sua imagem e semelhança, indica o seu valor sagrado e serve de alicerce à universalidade dos direitos humanos, princípio que lastreia a igualdade entre todos aqueles que aceitem a fé cristã. Como afirmou o Apóstolo Paulo, “não há judeu nem grego, não há servo nem livre; não há macho nem fêmea; porque todos vóis sois um em Cristo Jesus” (Gálatas, 3: 28).[3]
O coletivismo, diversamente do personalismo, proclama o coletivo primeiro. A pessoa deixa de ser vista como um ser isolado e indiferente ao seu entorno; é integrada a um universo de coexistência e necessária convivência com seus iguais; o bem individual é ajustado e condicionado à realização do bem coletivo. O egocentrismo do ser humano cede lugar à solidariedade social e o direito puramente individual, em certa medida, é pressionado pela expansão da função social atribuída a cada componente do grupamento. É nesse contexto que surgem os deveres individuais, que se colocam como “problemas de articulação e de relação do indivíduo com a comunidade.”[4] O coletivismo, em seus extremos, pode conduzir ao “estadocentrismo”, tese que, até a primeira metade do século XX, individualizava o fundamento dos direitos individuais numa auto-limitação do Estado, não na essência do ser humano.[5]
Conquanto atue como elemento de contenção do personalismo, o coletivismo tem sido indispensável à sua própria preservação. Em outras palavras, na medida em que cada ser humano é visto como partícula indissociável do coletivo, afigura-se evidente que a preservação deste pressupõe a conservação daquele.
Personalismo e coletivismo, como se percebe, não encerram premissas antinômicas. Em verdade, coexistirão harmonicamente em sendo acolhida a premissa de que posições extremadas, com pouco apreço às diversidades e aos valores contrapostos, raramente andam de braços dados com referenciais básicos de justiça. Ao ser humano, concebido em sua individualidade, deve ser assegurada uma esfera de proteção jurídica impenetrável, ainda que evidente o benefício coletivo com a sua violação.[6] O coletivo, por sua vez, será tanto mais coeso quanto maior for o grau de comprometimento com a proteção da esfera individual.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH),[7] adotada e proclamada pela Resolução no 217 A (III), da Assembléia Geral das Nações Unidas, de 10 de Dezembro de 1948, pode ser considerada um fator de união entre a sedimentação do personalismo e o florescimento do coletivismo (humano) no âmbito da sociedade internacional. Até então e não obstante alguns avanços isolados (v.g.: com o direito internacional humanitário), os direitos individuais consubstanciavam matéria afeta à ordem interna, o que em muito dificultava o surgimento de pontos de consenso de caráter universal. Quanto ao coletivismo, ele ainda estava finalisticamente direcionado à manutenção da paz; tutelava os direitos e as relações dos sujeitos de direito internacional entre si, mas dentre eles não incluía a pessoa humana, que continuava refém da ordem interna de cada Estado.
Com a DUDH, foi definitivamente sedimentada uma base axiológica lastreada na proteção da pessoa humana. Valores, como já tivemos oportunidade de afirmar,[8] consubstanciam unidades abstratas indicativas de que, em dado momento e em certa coletividade, determinados comportamentos são mais prestigiados que outros, sendo possível afirmar que aglutinam as diretrizes comportamentais mais aceitas nas relações intersubjetivas. Os valores sedimentados na DDHC, face à pretensão ao universalismo que ostentam, possuem grande influência no processo de concretização das normas de direito interno e de direito internacional, servindo de alicerce para os múltiplos tratados e convenções de proteção aos direitos humanos que a sucederam.
O objetivo dessas breves linhas é traçar o lineamento básico da sedimentação dos direitos humanos, que encontrou o seu apogeu na DUDH, bem como compreender o entendimento que tem sido adotado no âmbito do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que considera a violação massiva dos direitos humanos, ainda que ocorrida no âmbito do próprio Estado a que pertença o indivíduo, uma ameaça à paz e à segurança internacional.
2. Período anterior à Declaração Universal dos Direitos Humanos
A partir do Século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, ao menos sob uma perspectiva idealístico-formal, a concepção de que o respeito ao ser humano deve ocupar o epicentro de toda e qualquer atividade desenvolvida pelas estruturas sociais de poder parece ter recebido o colorido de dogma intangível.[9] Essa constatação, longe de ser setorial ou mesmo sazonal, rompeu as fronteiras de cada Estado de Direito, disseminou-se pelo globo e, em refluxo, afrouxou as amarras do aparentemente indelével conceito de soberania, subtraindo do Estado a disponibilidade normativa e exigindo o imperativo respeito de valores essenciais ao ser humano.[10]
Embora não seja este o momento adequado à elaboração de uma relação de todos os tratados, convenções, declarações e documentos afins que influenciaram na sedimentação da concepção de proteção aos direitos humanos no cenário internacional, acrescendo que empreitada como essa estaria freqüentemente às voltas com o risco do esquecimento e da omissão, parece-nos relevante fazer uma breve referência a alguns desses documentos.
Na sequência da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, de Junho de 1919, além de dispor sobre a independência e a autodeterminação da Polônia, assegurava direitos culturais e religiosos às minorias, prevendo, como mecanismos de proteção, a revisão de suas disposições somente pela maioria do Conselho da Sociedade das Nações, a intervenção do Tribunal Permanente de Justiça Internacional para dirimir possíveis dúvidas de interpretação e a possibilidade de sanções na hipótese de violação ou risco de violação ao estipulado.[11]
Disposições como essas, que também integraram outros tratados celebrados com os Estados vencidos, demonstram uma atitude de irresignação e a preocupação da sociedade internacional (rectius: os vencedores) com a necessidade de os Estados reconhecerem determinados direitos fundamentais aos seus próprios nacionais. Apesar de celebrado na seqüência de um conflito armado e ter sido reconhecidamente imposto aos vencidos, não livremente acordado, esse tratado já permite antever a grande mudança que seria promovida, no decorrer do Século XX, no trato dos direitos humanos.
A criação da Organização Internacional do Trabalho, prevista na parte XIII do Tratado de Versalhes, também demonstra o anseio da sociedade internacional em ver respeitados determinados direitos sociais do trabalhador, o que seria alcançado com a instituição de uma representação que abrigasse todos os interesses envolvidos (empregados, empregadores e representantes do Estado), com a busca constante da melhoria das condições de trabalho, que não deveria ser considerado uma mercadoria, e com a possibilidade de serem recebidas reclamações das organizações profissionais quanto ao descumprimento das obrigações assumidas pelos Estados. Em seu preâmbulo, a Carta da Organização Internacional do Trabalho expressa que as “Altas Partes Contratantes são movidas por sentimentos de justiça e humanidade” e que “uma paz universal e duradoura só pode ser fundada numa base de justiça social”.
Ainda sob a égide da Sociedade das Nações, merecem lembrança, também como indicadores dos novos caminhos trilhados pelo Direito Internacional, os regimes de proteção setorial instituídos pela Convenção de Genebra, de 25 de Setembro de 1926, relativa à abolição de todas as formas de escravidão;[12] pelas Convenções de 28 de Outubro de 1933 e de 10 de Fevereiro de 1938, que dispuseram sobre o estatuto internacional dos refugiados; e pelas Convenções de Genebra de 1929, sobre feridos e doentes em campanha e prisioneiros de guerra, dando continuidade ao regime de proteção iniciado em 1864 e renovado em 1906.[13]
3. O relevante papel desempenhado pelas Nações Unidas
Não obstante a nítida proliferação dos instrumentos de proteção dos direitos humanos, a disciplina existente, essencialmente restrita a aspectos específicos, ainda se ressentia de uma maior amplitude, isto sem olvidar o fato de a soberania ainda ser vista como um verdadeiro anteparo a qualquer tentativa de aferição do tratamento dispensado pelos Estados aos seus nacionais. O Direito Internacional continuava a ser direcionado aos Estados, não aos indivíduos.
Esse quadro sofreu sensíveis alterações com a criação da Organização das Nações Unidas. Embora a Carta das Nações não se refira, literalmente, à proteção ou à salvaguarda dos direitos humanos, é inegável o fato de ter introduzido uma profunda inovação no Direito Internacional tradicional, essencialmente intra-estatal, ao tornar incontroverso que o tratamento dispensado pelos Estados às pessoas que se encontrem sob sua jurisdição, sejam nacionais ou estrangeiros, se submeteria às regras e aos princípios internacionais.[14]
A preocupação com os direitos humanos não mais seria ônus exclusivo dos Estados. Do mesmo modo, deixaria de tangenciar o Direito Internacional apenas em assuntos específicos e normalmente afetos às relações mantidas entre os Estados (v.g.: os direitos decorrentes de conflitos bélicos) para alcançar a generalidade dos seres humanos, reconhecendo a sua condição de titulares de direitos e a existência da correlata obrigação jurídica dos Estados em observá-los.
A começar pelo seu pacto constitutivo, múltiplos têm sido os atos internacionais editados no âmbito dessa Organização ou com a sua intermediação visando à efetiva proteção dos direitos humanos. A Carta das Nações Unidas, logo no preâmbulo, reafirma a “fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana” e o fim de “manter a paz e a segurança internacionais”. Consoante o no 2 do art. 1o, é objetivo da Organização “desenvolver relações de amizade entre as nações, baseadas no respeito do princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos, e tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal”, acrescendo a alínea c do art. 53 que esses objetivos seriam alcançados com a promoção do “respeito universal e efetivo dos direitos do homem e das liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião”, fundamentos igualmente contemplados no no 3 do art. 1o, na alínea c do art. 55 e na alínea c do art. 76. Para a consecução desses objetivos, devem “os membros da Organização agir em cooperação com esta”,[15] o que indica a existência de uma obrigação jurídica nesse sentido.
Como se constata, são objetivos das Nações Unidas, coexistentes e harmônicos entre si, o respeito aos direitos humanos e a proteção da paz, o que pode justificar, inclusive, a adoção de “medidas coletivas eficazes para prevenir e afastar ameaças à paz e reprimir os atos de agressão ou qualquer ruptura da paz”.[16]
Ainda sob a ótica da proteção dos direitos humanos, a Carta das Nações Unidas contempla institutos de Direito Internacional nos quais essa preocupação é igualmente manifestada. O regime de tutela, resultante de acordo individual celebrado sob a autoridade das Nações Unidas e atualmente em franco desuso, deve ser instituído em benefício dos habitantes de determinado território, tendo como uma de suas finalidades a de “encorajar o respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião, e favorecer o reconhecimento da independência de todos os povos”.[17] Também os territórios não-autônomos têm reconhecido o primado dos seus interesses sobre os dos Estados administradores,[18] devendo ser buscada a consolidação da paz e da segurança internacionais.[19]
A freqüente utilização de conceitos jurídicos indeterminados, técnica apropriada em se tratando de ato internacional que busca estabelecer uma disciplina jurídica duradoura nas relações entre Estados e harmonizar inúmeros interesses distintos entre si, não permite concluir que a Carta das Nações é um mero aglomerado de exortações, não impondo aos Estados obrigações jurídicas em relação ao respeito aos direitos humanos. Essa técnica confere maior mobilidade às normas internacionais, permitindo a célere adequação do padrão normativo aos valores subjacentes à sociedade internacional no momento de sua aplicação.
Por ser indiscutível a impossibilidade de previsão abstrata de todas as situações passíveis de serem verificadas no Direito Internacional, acrescendo-se a inviabilidade de simultânea produção normativa, foi necessária a idealização de estruturas normativas que permitissem acompanhar tais mutações, o que foi obtido com a utilização de conceitos jurídicos indeterminados.
Apesar dessa flexibilidade de ordem semântica, é inegável que a Carta das Nações impõe à Organização e aos Estados a obrigação jurídica de agirem em harmonia com as suas disposições,[20] em especial no que se relaciona ao respeito aos direitos humanos, valor que se buscou preservar com a criação da Organização das Nações Unidas. Tal decorre do próprio sistema estruturado por seu ato constitutivo, alicerçado no imperativo cumprimento de obrigações gerais com o fim de alcançar a consecução de interesses comuns.
4. Contornos gerais da Declaração Universal dos Direitos Humanos
Como dissemos, a preocupação da sociedade internacional com o respeito aos direitos humanos tem como seu marco principal a DUDH. Principiando pelo preâmbulo, a DUDH propugna que a dignidade[21] é um valor fundamental ao ser humano, dele emanando todos os demais direitos, que devem ser “iguais” e “inalienáveis”.[22] Em razão de sua essencialidade, a inobservância dos direitos do homem legitimará o direito de resistência como “supremo recurso”.[23]
A partir desse alicerce fundamental, a Declaração reconhece a existência de direitos que impõem uma obrigação negativa ou um dever de abstenção por parte do Estado, categoria que normalmente é reconduzida aos direitos civis e políticos (v.g.: o direito de não ser submetido a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes – art. 5o), e, em menor escala, de direitos que geram uma obrigação positiva ou um dever de ação, categoria que aglutina a maior parte dos direitos sociais (v.g.: a ajuda e a assistência especiais na maternidade e na infância – art. 25, 2).
É evidente que o paradigma da atuação ou da abstenção do Estado, normalmente associado à existência ou não de custos financeiros para a proteção do direito, pode apresentar variações. A exemplo dos direitos civis e políticos, que também podem exigir um atuar positivo do Estado (v.g.: os elevados custos associados à garantia da liberdade e da sua própria defesa, como os gastos com a segurança pública e o aparato judicial, que atua na recomposição da ordem jurídica sempre que divisada a sua violação), os direitos sociais também podem ser assegurados com uma mera abstenção do Estado (v.g.: o direito à greve ou à liberdade sindical).
Além das duas categorias mencionadas, o art. 28 da Declaração afirma que “toda pessoa tem direito a que reine, no plano social e no plano internacional, uma ordem capaz de tornar plenamente efetivos os direitos e as liberdades enunciados na presente Declaração”. Trata-se de uma clara enunciação daquela que viria a ser considerada a terceira geração ou dimensão dos direitos humanos,[24] alcançando os “direitos dos povos”,[25] que são difusos e rompem a individualidade do ser humano para abarcar grande parcela do grupamento ou a própria espécie, do que são exemplos o direito ao desenvolvimento[26] e o direito ao meio ambiente saudável, caracterizando-se pelo ideal de solidariedade. São direitos despersonalizados, pertencentes a todos e, simultaneamente, a ninguém em especial.
Essas três dimensões ou gerações de direitos fundamentais,[27] não obstante sucessivas entre si se analisadas sob a ótica da evolução do pensamento político e da própria civilização, não excluem as anteriores, coexistindo harmonicamente. São os direitos individuais, os direitos sociais e os direitos de solidariedade, classificação que pode ser reconduzida ao ideário político da Revolução Francesa: liberté, egalité et fraternité.
O flagrante desalinho entre a plasticidade de suas linhas e a ausência de qualquer obrigatoriedade jurídica aos Estados subscritores, pois a Declaração Universal não chegou a ser um tratado, não são aptos a apagar as vicissitudes pelas quais passou no decorrer dos anos. A Declaração paulatinamente se integrou aos valores prestigiados pela Carta das Nações, reduzindo sua acentuada abstração e conferindo-lhes maior determinabilidade, não podendo ser considerada, assim, tão-somente uma exortação moral.
Somente em 1966, com a edição dos Pactos Internacionais, os princípios e as aspirações ali veiculados receberam o colorido da vinculatividade formal em relação aos Estados que os ratificassem. Apesar disso, talvez não seja exagero afirmar que essa “mera” Declaração terminou por ocupar uma posição transcendente e mesmo legitimante em relação aos demais atos internacionais convencionais de proteção dos direitos do homem.
A Declaração pode ser vista como uma interpretação autorizada da Carta das Nações, como reveladora de princípios gerais do Direito Internacional ou como aglutinadora de regras de natureza consuetudinária,[28] terminando por ocupar uma importância singular na sedimentação do imperativo respeito aos valores que aglutina e, porque não, perpetua. Com isto, a evolução do Direito Internacional permitiu que a Declaração se transmudasse de mera exortação moral em instrumento efetivamente vinculante para os Estados, constatação esta há muito chancelada pelo Tribunal Internacional de Justiça ao afirmar que “o fato de privar abusivamente os seres humanos da liberdade e submetê-los em condições penosas a coação física é manifestamente incompatível com os princípios da Carta das Nações Unidas e com os direitos fundamentais enunciados na Declaração Universal dos Direitos Humanos”.[29]
O argumento de que a implementação e a execução das disposições da DUDH exigiriam a delimitação do seu exato alcance por convenções particulares merece temperamentos, pois o seu aspecto costumeiro também recai sobre o reconhecimento de um padrão mínimo de direitos, que independe de qualquer adendo e enseja uma interpretação mais restritiva do princípio da não-intervenção.[30] Além disso, é evidente a “função hermenêutica”[31] desempenhada pela Declaração ao auxiliar a interpretação das disposições normativas internas voltadas à proteção dos direitos humanos.[32]
O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos[33] e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais,[34] ambos aprovados em 16 de Dezembro de 1966, pela Resolução no 2200 A da Assembléia Geral, entrando em vigor, respectivamente, em 23 de Março e em 3 de Janeiro de 1976, são outros exemplos da iniciativa das Nações Unidas na difusão de uma ideologia protetiva dos direitos humanos.[35]
5. A inobservância dos direitos humanos e a violação da paz e da segurança internacionais
Em rigor, a proteção dos direitos humanos não está necessariamente incluída sob a epígrafe da manutenção da paz e da segurança internacionais, sendo plenamente factível a violação dos primeiros sem reflexos imediatos na estabilidade das relações internacionais. Nessa linha, pode-se concluir que a atuação do Conselho de Segurança das Nações Unidas - órgão que determinará a existência de atos atentatórios à paz e adotará as medidas cabíveis[36] - apesar de não estar primordialmente voltada à preservação dos direitos humanos,[37] tem sido ampliada ante a abertura propiciada pelo conceito de manutenção da paz e da segurança internacionais.
Violações à paz e à segurança internacionais estarão normalmente associadas a conflitos internacionais, o que afasta qualquer alegação de domínio reservado de jurisdição interna e exige a adoção de medidas tendentes à recomposição da normalidade nas relações internacionais. Em situações excepcionais, no entanto, a partir das circunstâncias do caso e de sua projeção no plano internacional, também os conflitos internos podem ensejar violações dessa natureza.
A intervenção em determinado Estado, por evidente, não se compatibiliza com o conceito clássico de soberania. Ainda que determinadas medidas de coerção não-armada, como os embargos comerciais, não produzam efeitos imediatos no território de certo Estado, é inegável a restrição imposta quanto à sua livre determinação no plano internacional, o mesmo ocorrendo em relação aos Estados que com ele habitualmente negociem. No que concerne à obrigação de aceitar o ingresso de missões internacionais, a restrição à soberania é mais nítida, pois evidencia uma violação à própria indenidade do território, constatação que se intensifica em se tratando de intervenção armada.
De qualquer modo, a ratio essendi da intervenção não é a de eliminar a autodeterminação de um povo ou simplesmente submetê-lo ao comando de outro. O que se busca, em verdade, é a eliminação dos fatores circunstanciais de ordem interna que, por comprometerem em larga escala a preservação dos direitos humanos, ameaçam a própria existência de um povo ou de considerável parcela dele, erigindo-se como foco de instabilidade da paz internacional. A intervenção internacional a partir da identificação de situações dessa natureza exigirá, à luz das circunstâncias do caso, uma ponderação responsável entre os princípios da proteção dos direitos humanos e da soberania estatal, indicando em que medida a preservação de um deles exige a imposição de restrições ao outro.
Note-se que o Direito Internacional tem evoluído no sentido de ampliar o sistema de proteção dos direitos humanos, o que termina por relegar a plano secundário a distinção, outrora relevante, entre conflitos internos e conflitos internacionais. Independentemente da qualificação formal atribuída ao conflito, o importante é assegurar um nível mínimo de proteção dos direitos humanos, velando pela concretização das normas internacionais que geram obrigações erga omnes e dissociando o alcance desse objetivo das possíveis concessões realizadas pelo Direito Interno ao abrigo da soberania estatal.[38]
Identificar em que medida a violação aos direitos humanos pode assumir proporções mais drásticas e se transmudar em ameaça à paz e à segurança internacionais exige a análise das circunstâncias do caso concreto, sendo inevitável a influência de fatores de ordem subjetiva nessa operação.
Parece indiscutível que viola a dignidade humana a falha do aparato judiciário que enseje a permanência de um cidadão na prisão além do lapso necessário ao cumprimento da pena que lhe fora imposta. Apesar disso, será admissível a intervenção do Conselho de Segurança, para fazer cessar essa ilegalidade, sob o argumento de ameaça à paz e à segurança internacionais? A nosso ver, esse fato, por si só, não pode ensejar a referida intervenção, devendo prevalecer, em linha de princípio, a utilização de outros instrumentos, convencionais (v.g.: tratados de proteção dos direitos do homem) ou não-convencionais (v.g.: censura pela sociedade internacional).
Essa conclusão é justificável na medida em que violações isoladas dos direitos humanos, sem qualquer influência na estabilidade das relações sociais e na coexistência entre os povos, não podem ser consideradas como ameaças à paz e à segurança internacionais.
Tratando-se do descumprimento pontual de obrigações assumidas pelo Estado no plano internacional, não obstante inviável a alegação de que a matéria está afeta ao âmbito de incidência do domínio reservado de jurisdição interna, não nos parece possível a adoção, pelo Conselho de Segurança, das medidas interventivas situadas em sua esfera de atribuições. Em casos tais, caberá aos demais órgãos das Nações Unidas, em especial à Assembléia Geral ou ao próprio Conselho de Segurança, manifestar a desaprovação pelo descumprimento das obrigações contraídas pelo Estado em suas relações internacionais, o que em nada se confunde com a adoção das medidas previstas no Capítulo VII da Carta, o que inclui o uso da força.
Por outro lado, caso a situação acima mencionada seja freqüente e atinja determinado grupo, individualizado por características específicas (raça, sexo, convicção religiosa etc.), terminando por conduzir a uma massiva instabilidade das relações sociais, a outra conclusão podemos chegar. Em tais casos, a magnitude da violação dos direitos humanos pode adquirir proporções que rompam os lindes do território do Estado e se espraiem por determinada região ou mesmo por todo o globo.
Esse estado de coisas tanto pode ser identificado nas hipóteses em que outros Estados sofram, de forma efetiva ou potencial, os reflexos materiais das violações perpetradas (v.g.: deslocamento de refugiados, confrontos armados fronteiriços etc.), como nos casos em que referidas violações, apesar de circunscritas a certo território, importem na violação de valores fundamentais ou na difusão de ideologias francamente contrárias às concepções já sedimentadas no seio da sociedade internacional e consideradas essenciais à coexistência entre os povos (v.g.: a perseguição dos indivíduos de determinada raça).
Embora não seja necessária uma correspondência exata entre as violações dos direitos humanos e as condutas que se enquadrem na tipologia dos crimes internacionais, é inegável que a configuração destes últimos, apesar de estritamente relacionada ao indivíduo, pode ser um relevante indício da prática, pelos Estados, de atos que ameacem à paz e à segurança internacionais.[39] A conclusão deriva do fato de os crimes internacionais ocuparem o ápice da escala de gravidade que pode ser divisada nas diferentes formas de violações dos direitos humanos, alcançando, em alguns casos, as violações ao já mencionado núcleo duro dos direitos humanos (v.g.: o direito a não ser submetido a tortura nem a penas ou a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes). Além disso, são normalmente praticados de forma sistemática e massiva, lesando valores fundamentais da sociedade internacional.
Deve-se observar, no entanto, que também as condutas indistintamente enquadradas sob a epígrafe dos crimes internacionais ocupam posições diferentes numa escala que leve em conta a gravidade das violações aos direitos humanos, daí se dizer que a prática desses ilícitos configura tão-somente um indício de ameaça à paz e à segurança internacionais.
Como dissemos, cabe ao Conselho de Segurança avaliar se a violação sistemática dos direitos humanos em determinado Estado caracteriza uma situação de ameaça ou de ruptura da paz. Trata-se de atividade delimitada pelo Direito Internacional, mas nitidamente discricionária e com acentuado cunho político, não raro refletindo os interesses dos Estados mais influentes, em especial dos membros permanentes do Conselho de Segurança. Curiosamente, as primeiras deliberações das Nações Unidas nesse sentido foram emitidas pela Assembléia Geral, órgão que, suprindo a omissão do Conselho de Segurança – situação recorrente durante a “Guerra Fria” – passou a se pronunciar sobre essas questões: à guisa de ilustração, qualificou a política de apartheid praticada pelo Governo da África do Sul como uma ameaça à paz e à segurança internacionais.[40] [41]
No entanto, apesar do inegável efeito político-moral das deliberações da Assembléia Geral - a exemplo do que se verifica em relação às manifestações de outros órgãos das Nações Unidas, como o Secretariado, por seu Secretário-Geral -, retratando a desaprovação da sociedade internacional em relação a determinada prática, foram reduzidas as medidas concretas já adotadas por esse órgão visando à reversão de quadros lamentáveis como o verificado na África do Sul. Apesar de a Assembléia Geral ter deliberado pela possibilidade de uso da força no caso de inércia do Conselho de Segurança,[42] foi a este último órgão que a Carta das Nações atribuiu, com exclusividade, o poder de decidir sobre a adoção de medidas dessa natureza.
Somente com a aprovação da Resolução no 418 (1977),[43] o Conselho de Segurança reconheceu a presença de uma ameaça à manutenção da paz e da segurança internacionais na conduta da África do Sul, o que decorria da aquisição de armas e de outros materiais, não sendo atribuída essa qualificação, de forma expressa, ao apartheid.[44] Em que pese ter sido tardiamente editada, essa Resolução foi vinculada à Resolução no 232 (1966), que se referia a um embargo de igual natureza imposto à Rodésia do Sul (Zimbawe) e deixava claro que questões de natureza eminentemente interna poderiam justificar a atuação do Conselho de Segurança, com esteio nos arts. 24 e 39 da Carta das Nações Unidas, sempre que se mostrassem lesivas à paz e à segurança internacionais.[45]
Em outras situações, o Conselho de Segurança chegou a qualificar graves violações aos direitos humanos como ameaças à paz e à segurança internacionais. Encampando a síntese de Fernández Sanches,[46] podem ser mencionados: a) a situação surgida com a declaração de independência da minoria branca na Rodésia, tendo em vista a violação ao princípio da livre determinação dos povos,[47] que consubstancia um direito de terceira geração; b) a repressão do Iraque contra a população civil curda no norte do País, gerando um fluxo massivo de refugiados com a conseqüente violação das fronteiras;[48] c) os conflitos verificados na antiga Iugoslávia;[49] d) a amplitude da tragédia humana na Somália e os obstáculos à ajuda humanitária, que foi considerada uma situação única em razão de sua deterioração e de sua complexidade;[50] e) a deposição do Presidente eleito do Haiti por uma junta militar, bem como as crises humanitárias e os deslocamentos massivos da população civil;[51] e f) o conflito armado no Ruanda, entre o governo e o movimento armado Frente Patriótica Ruandesa, resultando em milhares de mortes, destruição de cidades e êxodo de refugiados.[52]
Epílogo
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ao sedimentar o personalismo característico dos direitos dessa natureza, conferindo uma visão cosmopolita aos vetores axiológicos que lhes dão sustentação, prestou relevante contribuição ao florescer do coletivismo (humano) no âmbito da sociedade internacional. Os direitos humanos deixaram de ser vistos como afetos puramente ao domínio reservado de jurisdição interna e transcenderam os lindes de cada Estado de Direito.
A preeminência dos direitos humanos, no entanto, exige interpretação prospectiva, permitindo ajustá-los às mutações sociais, e vigilância constante, de modo que sua plasticidade idealístico-formal seja transposta para a realidade. Somente assim o legado deixado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos continuará a produzir bons frutos, contribuindo para o efetivo evolver da humanidade.
[1] Cf. MOURGEON, Jacques. Les Drois de l’Homme. 3ª ed. Paris: Presses Universiteires de France, 1985, p. 42.
[2] Gênesis, 1: 27.
[3] Cf. OTERO, Paulo. Instituições Políticas e Constitucionais, vol. I. Coimbra: Edições Almedina, 2007, p. 97.
[4] GOMES CANOTILHO, J. J.. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed. Coimbra: Edições Almedina, 2003, p. 531. A bilateralidade das relações estabelecidas pelo indivíduo, do que decorre a fruição de direitos e a assunção de obrigações, tem sido lembrada em múltiplas convenções internacionais, como é o caso da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, adotada em 30 de Abril de 1948. Nesse particular, merece realce a Carta Africana dos Direitos e do Bem-Estar da Criança, cujo art. 31 contempla uma série de responsabilidades da criança, o que não costuma ser usual face às suas reconhecidas limitações de ordem psíquico-biológica. Dentre os deveres, que variam consoante a idade e a habilidade da criança, podem ser mencionados o dever de trabalhar para a coesão da família, de respeitar os pais, de servir à sociedade internacional, de preservar e fortalecer a independência e a integridade do seu país.
[5] Cf. PACE, Alessandro. Problematica delle Libertá Costituzionali, Parte Generale. 2ª ed. reimp. Padova: CEDAM, 2003, p. 5.
[6] A nosso ver, é perfeitamente possível que a ordem jurídica consagre direitos definitivos, excludentes da concorrência de qualquer outro bem ou valor que possa afetar a proibição constitucional. Nesse particular, não nos parece de todo aceitável a tese de Robert Alexy, que afasta a própria existência, no plano constitucional, de direitos que nunca podem ser afastados (“direitos absolutos genuínos” – genuin absolute Rechte): segundo ele, o alcance da proteção absoluta (absoluten Schutzes) de um direito sempre dependerá das relações entre os princípios incidentes no caso, o que inevitavelmente conduzirá a um juízo de ponderação (Theorie der Grundrechte. Baden-Baden: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1994, p. 272). Um exemplo claro dessa possibilidade reside na proscrição da tortura, que assumiu contornos nitidamente cosmopolitas, podendo ser considerada um direito definitivo. No direito português, a proibição à tortura está prevista no art. 25, 2, da Constituição de 1976. Anota Gomes Canotilho que “o indivíduo tem direito, sempre e sem excepção, à integridade moral e física; por conseqüência, proíbe-se, sempre e sem qualquer exceção, a prática da tortura, de tratos ou a sujeição a penas cruéis, degradantes ou desumanas” (Direito Constitucional..., p. 1255). A conclusão, segundo o autor, é reforçada pelo art. 19, 6, que assegura a intangibilidade de certos direitos mesmo no estado de sítio ou de emergência. Essa posição definitiva sequer permite que a questão seja submetida a um juízo de ponderação: a preservação da segurança coletiva não pode justificar sejam considerados lícitos os atos de tortura praticados contra detentos de uma unidade prisional, ainda que com o fim de obter informações sobre os planos dos comparsas em liberdade. No Caso Tyrer c/ Reino Unido, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem reconheceu que o dever de respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, apesar de não contemplado em sua literalidade no art. 3o da Convenção Européia de Salvaguarda dos Direitos Humanos, podia ser inferido claramente do seu enunciado: “Ninguém pode ser submetido a tortura nem a penas ou tratamentos desumanos ou degradantes”. Acrescentou, ainda, que as ofensas físicas e psicológicas (a humilhação grosseira perante outros ou a obrigação de agir contra a sua vontade ou consciência) atentam contra a dignidade humana, bem como que esse preceito configura uma das raras normas cujo alcance é absoluto (j. em 25 de Abril de 1978, Série A, no 26). No Caso Irlanda c/ Reino Unido, o Tribunal afirmou que “a Convenção proíbe em termos absolutos a tortura e as penas ou tratamentos desumanos ou degradantes, quaisquer que sejam as atividades da vítima. O artigo 3o não contempla restrições, no que ele contrasta com a maioria das cláusulas normativas da Convenção e dos Protocolos nos 1 e 4, e depois com o artigo 15, parágrafo 2o, não sofrendo nenhuma derrogação mesmo no caso de perigo público que ameace a vida de uma Nação” (j. em 18 de Janeiro de 1978, Série A, no 25). Realçando os contornos cosmopolitas da proibição da tortura, merece ser lembrada a Declaração sobre a Proteção de Todas as Pessoas Contra a Tortura e Outros Tratamentos Desumanos ou Degradantes, aprovada, por unanimidade, pela Resolução no 3452 (XXX), de 9 de Dezembro de 1975. Após realçar a possibilidade de a Constituição contemplar os direitos fundamentais em regras de “natureza fechada e absoluta”, Jorge Reis Novais exemplifica com a proscrição da pena de morte e da prisão perpétua: (1) após ponderar os distintos fatores envolvidos (direito à vida, dignidade da pessoa humana, ressocialização dos delinqüentes, efeitos das penas e prevenção da criminalidade), o legislador constituinte optou pela proibição; (2) não há espaço para uma “reponderação” desses fatores; (3) por mais grave que seja o crime, não podem os poderes constituídos desrespeitar o sentido e o alcance dessa proibição; e (4) a garantia constitucional é definitiva, absoluta (As Restrições aos Direitos Fundamentais não Expressamente Autorizadas pela Constituição, Coimbra: Coimbra Editora, 2003, p. 577). Idêntico raciocínio prevalecerá em relação à obtenção de provas por meios ilícitos, tendo o legislador constituinte, ao estabelecer a vedação, prestigiado o direito à privacidade e à dignidade da pessoa humana, ainda que isto importe na impunidade de um criminoso (op. cit., p. 578). Esse entendimento tem sido privilegiado pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro: “Da explícita proscrição da prova ilícita, sem distinções quanto ao crime objeto do processo (CF, art. 5º, LVI), resulta a prevalência da garantia nela estabelecida sobre o interesse na busca, a qualquer custo, da verdade real no processo: conseqüente impertinência de apelar-se ao princípio da proporcionalidade - à luz de teorias estrangeiras inadequadas à ordem constitucional brasileira - para sobrepor, à vedação constitucional da admissão da prova ilícita, considerações sobre a gravidade da infração penal objeto da investigação ou da imputação” (1ª Turma, HC nº 80.949-9/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. em 30/10/2001, DJU de 14/12/2001, RTJ, vol. 180, nº 3, pp. 1001/1021).
[7] A Declaração foi aprovada com a participação de praticamente todos os cinqüenta e oito Estados membros da Organização na ocasião: quarenta e oito votos a favor, nenhum voto contra, oito abstenções (Arábia Saudita, Bielorussia, Tchecoslováquia, Polônia, Ucrânia, União Sul-Africana, URSS e Iugoslávia) e ausência de dois Estados (Honduras e Iêmen), o que é um relevante indicador do grau de penetração dos valores nela contemplados na sociedade internacional. A designação atual resultou da Resolução no 548 (VI), de 05/02/1952, da Assembléia Geral, que deliberou pela substituição da anterior – Declaração Universal dos Direitos do Homem - em todas as publicações das Nações Unidas.
[8] Cf. GARCIA, Emerson. Conflito entre Normas Constitucionais, Esboço de uma Teoria Geral. 2ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2015, p. 231.
[9] Louis Favoreau et alii lembram que, mesmo antes de 1945, o Direito Internacional costumeiro reconhecia um rol mínimo de direitos e liberdades aos estrangeiros, preocupação esta que também se manifestava em algumas convenções internacionais, como o Tratado de Julho de 1827, pelo qual França, Grã-Bretanha e Rússia comprometiam-se a intervir na Grécia pelos interesses do comércio, da paz na Europa e de um “sentimento de humanidade” e a Convenção de Genebra, de Agosto de 1864, que fundou a Cruz-Vermelha e o direito humanitário (Droits de libertés fondamentales. 2a ed. Paris: Éditions Dalloz, 2002, p. 40). No entanto, ressaltam que essas primeiras manifestações de proteção internacional dos direitos do homem ainda não impunham aos Estados que respeitassem os direitos dos seus próprios nacionais. Carrillo Salcedo acrescenta as garantias de liberdade religiosa das minorias, impostas pelos aliados europeus ao Império Otomano no Século XIX, os tratados de proibição ao tráfico de escravos (Tratado de Londres, de 1841 e Ata Geral de Bruxelas, de 1890) e os convênios destinados à proteção de doentes e feridos em tempo de guerra (Convenções de Genebra de 1864, renovada em 1906), mas observa, igualmente, que o Direito Internacional, inclusive com pronunciamentos do Tribunal Permanente de Justiça Internacional (vide o Caso das concessões Mavrommatis na Palestina, j. em 30/08/1924, PCPJI, Serie A, Recueil des Arrêts no 5, pp. 5/51, 1925) somente “regulava a posição jurídica dos estrangeiros de acordo com um padrão mínimo de justiça e civilização”, não o tratamento dispensado pelos Estados aos seus nacionais, aos quais não era reconhecida a condição de “titulares de direitos subjetivos no Direito Internacional tradicional”, máxime quando em confronto com o seu próprio Estado (Juan Antonio, Soberania de los Estados y Derechos Humanos en Derecho Internacional Contemporâneo. 2a ed, Madrid: Editorial Tecnos, 2001, pp. 29-30).
[10] Cf. GARCIA, Emerson. Proteção Internacional dos Direitos Humanos, Breves Reflexões sobre os Sistemas Convencional e Não-Convencional. 3ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2015, p. 1-16.
[11] Cf. FAVOREU, Louis et alli, op. cit., p. 40.
[12] A Convenção Contra a Escravidão foi adotada em 26 de Setembro de 1926 e modificada pelo Protocolo de 7 de Dezembro de 1953, vigendo, após essa modificação, desde 7 de Julho de 1955, contando com 95 (noventa e cinco) Estados partes até 5 de Fevereiro de 2002. O Brasil depositou o instrumento de ratificação em 6 de Janeiro de 1966.
[13] Cf. CARRILLO SALCEDO. op. cit., pp. 31/32.
[14] Cf. CARRILLO SALCEDO. op. cit., pp. 34/35.
[15] Vide art. 56 da Carta das Nações Unidas.
[16] Vide art. 1o, no 1 e art. 76, a, da Carta das Nações Unidas.
[17] Vide art. 76, c, da Carta das Nações Unidas.
[18] Vide art. 73 da Carta das Nações Unidas.
[19] Vide art. 73, c, da Carta das Nações Unidas.
[20] Nesse sentido: CARRILLO SALCEDO. op. cit., pp. 38/40.
[21] Para maior desenvolvimento, vide, de nossa autoria, “Dignidade da pessoa humana: referenciais metodológicos e regime jurídico”, in Revista de Direito Privado nº 21, p. 85, 2005.
[22] A existência de direitos “originários” e “inalienáveis” já fora defendida por John Locke (The Second Treatise of Government: Essay concerning the true original, extent and end of civil government, 3a ed., Norwich: Basil Blackwell Oxford, 1976., pp. 14 e ss.). Também os textos constitucionais contemporâneos fazem referência aos direitos “inalienáveis” ou “intangíveis” do homem, v.g.: o art. 1o, 1, da Grundgesetz alemã; o art. 4o da Constituição do Principado de Andorra; o art. 10, 1, da Constituição da Espanha; o art. 2o da Constituição da Itália; a primeira frase do preâmbulo da Constituição da França de 1946, integrado à Carta de 1958; o art. 11 da Constituição do Japão; e o art. 17, 2, da Constituição da Rússia. O Bill of Rights of Virginia, de 12 de Junho de 1776, cujo modelo se espraiou por outros Estados da Federação americana, dispunha, em seu art. 1o, que “todos os Homens são por natureza igualmente livres e independentes e possuem determinados direitos inatos...”.
[23] Vide o parágrafo terceiro do preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
[24] Cf. HILLIER, Timothy. Principles of Public International Law. 2a ed. Londres: Cavendish Publishing Limited, 1999, p. 296; e CARRILLO SALCEDO. op. cit., p. 53.
[25] Cf. BROWNLIE, Ian. Principles of Public International Law. 6a ed. New York: Oxford University Press, 2003, pp. 540/541; GOMES CANOTILHO. op. cit., p. 386.
[26] Vide a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, da Assembléia Geral das Nações Unidas, aprovada pela Resolução no 41/128, de 4 de Dezembro de 1986, por cento e quarenta e seis votos a favor, um contra (proferido pelos EUA) e oito abstenções.
[27] Cf. FAVOREU et alii. op. cit., pp. 45-47.
[28] Cf. SIMMA, Bruno. The Charter of the United Nations, A Comentary, vol. II, 2a ed., Nova Iorque: Oxford University Press, 2002, p. 926. No mesmo sentido, realçando os aspectos costumeiro e principiológico da Declaração Universal: MIRKINE-GUETZÉVITCH, Boris. L’O.N.U. et la Doctrine Moderne des Droits de L’Homme (Théorie, Technique, Critique), in RGDIP, vol. LV, p. 161 (176), 1951 (merece atenção o fato desse autor, pouco após a adoção da Declaração, já se manifestar sobre a sua incorporação ao Direito Internacional como princípio geral de Direito); MARTINS, Margarida Salema d’Oliveira e MARTINS, Afonso d’Oliveira. Direito das Organizações Internacionais, vol. II, 2a ed., Lisboa: Associação Acadêmica da Faculdade de Direito de Lisboa, 1996, p. 164; CORREIA BAPTISTA, Eduardo. Ius Cogens em Direito Internacional, Lisboa: Lex, 1997, p. 402; e PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, 8ª ed., Madrid: Editorial Tecnos, 2003, p. 82.
[29] Cf. TIJ, Caso do Pessoal Diplomático e Consular dos Estados Unidos da América em Teerã, j. em 24/05/1980, ICJ Reports, 1980, considerando 91.
[30] Cf. SIMMA, Bruno. op. cit., Vol. II, p. 927.
[31] Cf. RUOTOLO, Marco. La “Funzione Ermeneutica” delle Convenzioni Internazionali sui Diritti Umani nel Confronti delle Disposizioni Costituzionali, in Rivista Diritto e Societá no 2, p. 291 (296), 2000.
[32] Alguns Estados optaram por deixar expresso o que se encontra ínsito no sistema: a) o art. 16, 2, da Constituição portuguesa dispõe que “as disposições constitucionais e legais relativas aos direitos fundamentais devem ser interpretadas e integradas em harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem”; e b) segundo o art. 10, 2, da Constituição espanhola, “as normas relativas aos direitos fundamentais e às liberdades que a Constituição reconhece se interpretarão em conformidade com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e os tratados e acordos internacionais sobre a matéria ratificados pela Espanha”. Cf. MIRANDA, Jorge e MEDEIROS, Rui. Constituição Portuguesa Anotada, Tomo I. Coimbra: Coimbra Editora, 2005, pp. 140 e ss..
[33] Esse Pacto, que contava com a adesão de 171 (cento e setenta e um) Estados até 26 de setembro de 2006, está acompanhado de dois protocolos facultativos: o primeiro, contemporâneo à sua elaboração, habilita o Comitê dos Direitos do Homem a receber e a examinar as comunicações de particulares “que se considerem vítimas de uma violação dos direitos previstos no Pacto”; o segundo, por sua vez, aprovado em 15 de Dezembro de 1989 pela Resolução no 44/128 da Assembléia Geral, está voltado à abolição da pena de morte. O Brasil ratificou o Pacto em 1991 (Decreto-Legislativo no 226, de 12 de Dezembro de 1991), o promulgou em 1992 (Decreto-Presidencial no 592, de 6 de Julho de 1992) e depositou o instrumento de ratificação em 24 de Janeiro de 1992, não fazendo o mesmo em relação aos protocolos. Especificamente em relação ao segundo protocolo, a posição brasileira talvez encontre uma justificativa mais plausível em um “lapso político” do que propriamente em uma incompatibilidade de natureza normativo-ideológica, isto porque o Brasil, em 1995 (Decreto-Legislativo no 56, de 19 de Abril de 1995), ratificou o “Protocolo à Convenção Americana sobre Direitos Humanos Referente à Abolição da Pena de Morte” - com reserva quanto à possibilidade de aplicação da pena de morte, em tempo de guerra, no caso de crimes militares extremamente graves (vide art. 5o, XLVII, a, da Constituição brasileira) - depositando o respectivo instrumento em 13 de Agosto de 1996 e promulgando-o na ordem interna em 1998 (Decreto-Presidencial no 2754, de 27 de Agosto de 1998). Como esse tipo de reserva é igualmente franqueado pelo art. 2o do segundo Protocolo Facultativo anexo ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, não vislumbramos outra explicação para a postura brasileira.
[34] Até 26 de setembro de 2008, o Pacto congregava 165 (cento e sessenta e cinco) Estados partes. O Brasil depositou o instrumento de ratificação em 24 de Janeiro de 1992.
[35] Dentre as convenções adotadas no âmbito das Nações Unidas, podem ser mencionadas: a) Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial – adotada em 21 de Dezembro de 1965, vigendo desde 4 de Janeiro de 1969, contando com 165 (cento e sessenta e cinco) adesões ou ratificações até 10 de Janeiro de 2003, ratificada pelo Brasil em 1968 e depositado o instrumento em 27 de Março de 1968; b) Convenção Internacional sobre a Repressão e a Punição do Crime de Apartheid, adotada em 30 de Novembro de 1973, vigendo desde 18 de Julho de 1976, contando com 104 (cento e quatro) adesões ou ratificações até 5 de Fevereiro de 2002, não tendo sido ratificada pelo Brasil até essa data; c) Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher - adotada em 1979, vigendo desde 1981, contando com 170 (cento e setenta) adesões ou ratificações até 10 de Janeiro de 2003, ratificada pelo Brasil em 1984 e depositado o instrumento em 1 de Fevereiro de 1984; d) Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos e Punições Cruéis, Desumanos e Degradantes - adotada em 1984, vigendo desde 1987, contando com 132 (cento e trinta e duas) adesões ou ratificações até 10 de Janeiro de 2003, ratificada pelo Brasil em 1989 e depositado o instrumento em 28 de Setembro de 1989; e) Convenção sobre os Direitos da Criança - adotada em 20 de Novembro de 1989, vigendo desde 2 de Setembro de 1990, contando com 191 (cento e noventa e uma) adesões ou ratificações até 10 de Janeiro de 2003, ratificada pelo Brasil em 1990 e depositado o instrumento em 25 de Setembro de 1990; f) Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e de seus Familiares - adotada em 18 de Dezembro de 1990, tinha 19 (dezenove) Estados partes até 10 de Janeiro de 2003, dentre os quais não estava o Brasil, dependendo da adesão de 20 (vinte) Estados para entrar em vigor internacional (art. 87); e g) as Convenções contra o terrorismo, dentre as quais a Convenção Internacional para a Supressão do Financiamento ao Terrorismo, adotada pela Assembléia Geral em 9 de Dezembro de 1999, por meio da Resolução no 54/109. Para uma visão geral das convenções e declarações concernentes à proteção dos direitos humanos, bem como das atribuições do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos do Homem (Resolução 48/141, da Assembléia Geral) e do Departamento de Assuntos Humanitários (Resolução 46/182, da Assembléia Geral), vide MARTINS, Margarida Salema d’Oliveira e MARTINS, Afonso d’Oliveira, op. cit., pp. 168 a 173.
[36] Vide art. 39 da Carta das Nações Unidas.
[37] A teor do art. 1o, no 3, da Carta das Nações Unidas, a atuação da Organização no respeito aos direitos do homem se dará com a implementação da “cooperação internacional”, não com a sua atuação direta.
[38] Cf. QUEL LOPEZ, Javier. Reflexiones sobre la Contribución del Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia al Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario, in Anuario de Derecho Internacional, no XIII, p. 467 (486), 1997.
[39] Cf. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Pablo Antonio. La violation grave des droits de l’homme comme une menace contre la paix, in Revue de Droit International de Sciences Diplomatiques et Politiques vol. 77, no 1, p. 23 (57), 1999.
[40] Cf. Resolução no 2506 B (XXIV), de 21 de Novembro de 1969; Resolução no 34/93 A, de 10 de Dezembro de 1979; Resolução no 38/39 D, de 5 de Dezembro de 1983; e Resolução no 39/72 A, de 13 de Dezembro de 1984.
[41] A falta de unanimidade dos membros permanentes do Conselho de Segurança já tinha levado a Assembléia Geral a editar a Resolução “União para a Paz” [Resolução no 377 (V), de 3 de Novembro de 1950, in Resolutions Adopted by the General Assembly, 5th Session, 1950/1951, p. 10], aprovada na seqüência dos conflitos verificados na Coréia. Na ocasião, movimentos armados disputavam a hegemonia sobre o território coreano, sendo constantes os incidentes fronteiriços, situação que se principiara em Outubro de 1949. Face à momentânea ausência da então União Soviética, que protestava contra a não admissão do Governo comunista chinês como representante da China na Organização (sendo mantido o status do governo deposto, que se refugiara em Formosa), o Conselho de Segurança aprovou a Resolução no 82, de 25 de Junho de 1950 (Resolutions and Decisions Adopted by the Security Council, 1950, pp. 4/5), data do ataque em larga escala realizado pelas autoridades do Norte, qualificando a situação como uma ruptura da paz. Descumprida a exigência de retirada das tropas e cessação das hostilidades, foi aprovada a Resolução no 83, de 27 de junho de 1950 (Resolutions and Decisions Adopted by the Security Council, 1950, p. 5), em que se pedia a todos os Estados membros que auxiliassem as autoridades do Sul. Posteriormente, ainda foram aprovadas as Resoluções nos 84, de 7 de Julho de 1950 (Resolutions and Decisions Adopted by the Security Council, 1950, pp. 5/6) e 85, de 31 de Julho de 1950 (RDASC, 1950, pp. 6/7), nas quais, respectivamente, se pedia a todos os membros que enviaram contingentes que os submetessem ao comando unificado dos EUA e se dispunha sobre a assistência humanitária ao povo da Coréia. No dia seguinte, a delegação soviética reassumiu o seu lugar e a presidência do Conselho, passando a vetar os projetos de resolução em apoio às autoridades do Sul da Coréia. A partir de então, o Conselho somente aprovaria outras duas resoluções, ambas de cunho procedimental. Apesar do recuo das forças norte-coreanas para o norte do paralelo 38, situação sacramentada no fim de setembro de 1950, as forças sul-coreanas continuaram avançando pelo território dominado pelas autoridades do Norte. Rejeitada pelos norte-coreanos, em 1 de Outubro, a exigência de rendição incondicional, o comando das forças, com o apoio do Governo americano, decidiu que deveria ser mantido o avanço. Em razão do bloqueio do Conselho, motivado pelos sucessivos vetos soviéticos, a Assembléia Geral editou a Resolução no 376 (V), de 7 de Outubro de 1950 (Resolutions Adopted by the General Assembly, 5th, Session, 1950/1951, pp. 9/10), que autorizou a adoção de todas as medidas adequadas à unificação da Coréia e ao estabelecimento de um governo unificado, independente e democrático, o que foi interpretado, pelos aliados, como uma autorização de invasão do território norte-coreano. Essa medida, que ultrapassava o âmbito das deliberações anteriores do Conselho e que sequer esse órgão poderia adotar, já que, por se tratar de um conflito interno, sua intervenção não poderia, em detrimento da Carta e do Direito Internacional Costumeiro, redundar em irrestrito apoio a um dos movimentos armados visando à reunificação, mas, sim, buscar a ultimação do conflito, repondo os contendores no status quo. Ao fim, não se logrou êxito na unificação pretendida, culminando com a retirada das tropas aliadas. Na seqüência desse conflito, foi editada a Resolução “União para a Paz”, também conhecida como Resolução Acheson, nome do então Secretário de Estado norte-americano que a promoveu, e que buscou generalizar a solução encampada pela Resolução no 376 (V), legitimadora do uso da força, no conflito coreano, por deliberação da Assembléia Geral. Essa última Resolução, no entanto, nunca chegou a ser utilizada, pela Assembléia Geral, como base normativa para a criação de forças bélicas ou para habilitar a sua utilização por alguma Organização Internacional ou Estado membro, pela Assembléia Geral. Observe-se, ainda, que com o ingresso de sucessivos Estados na Assembléia Geral, os EUA, grandes mentores da Resolução “União para a Paz”, perderam o controle sobre esse órgão, o que é mais um indicativo de que essa Resolução dificilmente será aplicada. Cf. CORREIA BAPTISTA, Eduardo. op. cit., pp. 626/646.
[42] Cf. o no 1 da letra A da Resolução “União para a Paz”.
[43] In Rivista Italiana di Diritto Internazionale, vol. LXI, no 1, pp. 171 e 172, 1978.
[44] Em deliberações anteriores [Resoluções nos 134 (1960) e 181 (1963)], o Conselho de Segurança havia se referido à política do apartheid como “um sério distúrbio da paz”.
[45] Cf. RIPOL CARULLA, Santiago. El Consejo de Seguridad y la Defensa de los Derechos Humanos. Reflexiones a partir del Conflicto de Kosovo, in Revista Española de Derecho Internacional no 1, vol. LI, pp. 59 (75-76), 1999.
[46] Op. cit., pp. 39 a 49. Sobre a prática do Conselho de qualificar as violações dos direitos humanos como ameaças à paz e não como rupturas desta, vide CORREIA BAPTISTA, Eduardo. op. cit., p. 979.
[47] Resoluções no 217 (1965), de 20 de Novembro (in RPSC, 1964-1965, p. 148) e 221 (1966), de 9 de Abril (in RDASC, 1966, pp. 5/6).
[48] Resolução no 688 (1991), de 5 de Abril, (in Resolutions and Decisions Adopted by the Security Council, 1991, pp. 12/13).
[49] Resolução no 713 (1991), de 25 de Setembro (in Resolutions and Decisions Adopted by the Security Council, 1991, pp. 42/43).
[50] Resolução no 794 (1992), de 3 de Dezembro (in Resolutions and Decisions Adopted by the Security Council, 1992, pp. 63/65).
[51] Resolução no 841 (1993), de 16 de Junho (in Resolutions and Decisions Adopted by the Security Council, 1993, pp. 119/120). Anota Juan Francisco Escudero Espinosa que, até então, as Nações Unidas jamais haviam tido uma atuação tão intensa em favor de governantes depostos num golpe de Estado [¿Hacia una Intervención Armada em Favor de la Democracia?: El ‘Precedente’ de Haiti, in Anuário de Derecho Internacional, vol. XII, p. 297 (316), 1996], devendo-se acrescer que o Presidente do Conselho de Segurança, numa de suas declarações, ressaltou a excepcionalidade da medida e que ela não deveria ser considerada como um precedente (“Mission des Nations Unies en Haiti”, in Les Operations de Maintien de la Paix des Nations Unies, Nova Iorque: Department of Public Information, 1994, 173, ONU/DPI/1306/Rev. 3, p. 148).
[52] Resolução no 929 (1994), de 21 de Janeiro (in Resolutions and Decisions Adopted by the Security Council, 1994, p. 10).