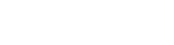O princípio da eficiência, não obstante a sua estatura constitucional, tende a passar por um inevitável processo de erosão normativa na medida em que aumente a tendência em se encampar a denominada escusa de incompetência. De acordo com essa escusa, a inépcia do agente público não justificaria o enquadramento de sua conduta no âmbito da Lei nº 8.429/1992, pois não seria uma demonstração de desonestidade. O objetivo destas breves considerações é demonstrar a insustentabilidade dogmática dessa construção e o risco que oferece para a própria subsistência do dever de eficiência.
Sumário: 1. O dever de eficiência dos agentes públicos. 2. A escusa de incompetência. 3. Epílogo. Referências bibliográficas.
Resumo: O princípio da eficiência, não obstante a sua estatura constitucional, tende a passar por um inevitável processo de erosão normativa na medida em que aumente a tendência em se encampar a denominada escusa de incompetência. De acordo com essa escusa, a inépcia do agente público não justificaria o enquadramento de sua conduta no âmbito da Lei nº 8.429/1992, pois não seria uma demonstração de desonestidade. O objetivo dessas breves considerações é demonstrar a insustentabilidade dogmática dessa construção e o risco que oferece para a própria subsistência do dever de eficiência.
Palavras-chave: desonestidade, eficiência, incompetência, improbidade administrativa.
Abstract: The principle of efficiency, despite its constitutional foundation, tends to suffer an inevitable normative erosion process in that it increases the tendency to encompass the known excuse of incompetence. Under this pretext, the ineptitude of public servant not justify the incidence of Law 8.429/1992, because because that would not be a demonstration of dishonesty this not being an indicator of dishonesty. The purpose of these brief considerations is to demonstrate the dogmatic unsustainability of this construction and the risk offering for the subsistence of efficiency duty.
Keywords: dishonesty, efficiency, incompetence, administrative misconduct.
1. O dever de eficiência dos agentes públicos
Eficiência, do latim efficientia, tanto denota o poder de produzir um efeito, no que se assemelha à eficácia, como a possibilidade de produzi-lo da melhor maneira possível, indicando a qualidade de uma dada ação, que se mostra eficiente. Ainda que não sejam poucas as exceções, a busca incessante pela eficiência pode ser vista, sob certa ótica, como um padrão de racionalidade do agir humano.
A racionalidade, em seus contornos mais amplos, indica a aptidão de conhecer e entender, a partir de relações lógicas e de inferência, aspectos abstratos ou concretos das ideias universais objeto de apreciação. Sob uma perspectiva mais estrita, reflete um especial modo de conhecer e entender, que se ajusta a certos standards adotados em determinados círculos de convivência humana. Esses standards consubstanciam padrões de correção ou de preferibilidade comportamental amplamente difundidos no locus analisado, estando incorporados à sua base cultural de sustentação. Esse aspecto é bem nítido em Von Wright (1993: 173), ao defender que a racionalidade é orientada aos objetivos, denotando a correção dos raciocínios, eficiência dos meios em relação aos fins escolhidos, confirmação e prova das crenças seguidas.
Em seu sentido amplo, a racionalidade indica uma característica inata do ser humano, assumindo contornos essencialmente instrumentais em relação às suas ações e ao modo de obter os resultados pretendidos. No plano estrito, é compreendida como o atributo do iter percorrido e do resultado alcançado, conferindo-lhe uma qualificação positiva.
Todo agir humano voluntariamente direcionado à realização de um resultado sempre tem a pretensão de alcançar esse objetivo, de ser eficaz. Mesmo que o ato seja direcionado, de modo voluntário, ao fracasso, vale dizer, a um resultado diverso daquele que ordinariamente deveria alcançar, a pretensão de eficácia continuará a estar presente. In casu, o agente almeja o insucesso e o perseguirá com os instrumentos de que dispõe.
Se a pretensão de eficácia é um elemento indissociável do voluntarismo do agir, o mesmo não pode ser dito em relação à adequação do resultado, obtido ou simplesmente almejado, a certos standards colhidos no ambiente sociopolítico. Quando essa adequação não se faz presente, é factível a maior dificuldade em se generalizar um sentimento de aceitação em relação à conduta e ao resultado que lhe é correlato. A consequência inevitável será atribuir-lhe uma qualificação negativa.
Enquanto a racionalidade lato sensu assume feições de natureza ontológica, sendo inerente ao agir voluntário, a racionalidade stricto sensu possui contornos axiológicos, demandando juízos valorativos quanto à aceitabilidade da conduta e do resultado à luz de uma determinada base de valores, que longe de ser estática, é essencialmente dinâmica, variando conforme os circunstancialismos de ordem espacial e temporal.
Como a racionalidade stricto sensu está situada no plano axiológico, é factível que nem sempre o atuar individual, ainda que premente o risco de reprovação, se ajustará ao standards adotados no plano coletivo. No entanto, caso isso ocorra, haverá uma nítida fratura entre o individual e o coletivo, do que pode resultar uma reprovabilidade de natureza exclusivamente moral ou, a depender da relevância do comportamento no ambiente sociopolítico, a sua caracterização como um ato ilícito, isso por destoar dos padrões de juridicidade ali adotados.
Com os olhos voltados à atuação dos agentes públicos, é possível afirmar que a eficiência deve estar necessariamente presente tanto no plano da racionalidade lato sensu, como no da racionalidade stricto sensu. Observa-se, de imediato, que os contornos ontológicos da primeira não oferecem espaço para maiores dúvidas. Afinal, o objetivo de realizar o resultado está ínsito no voluntarismo da ação. Já em relação à segunda, cuja base axiológica melhor se ajusta a um padrão não-vinculativo, tem-se uma evidente alteração de perspectiva quando a sua análise é realizada sob o prisma dos atos administrativos. E assim ocorre por uma razão muito simples. No direito constitucional brasileiro, aquilo que, na origem, apresentava contornos puramente axiológicos, a partir da Emenda Constitucional nº 19/1998, que alterou a redação do art. 37, caput, da Constituição de 1988, ingressou no plano jurígeno, isso porque, dentre os princípios expressos da Administração Pública, foi inserido o da “eficiência”.
Quando a racionalidade stricto sensu utiliza a juridicidade como paradigma de análise, é possível concluir pela imperativa adstrição do agente público aos seus contornos, sob pena de atuar à margem dos balizamentos estabelecidos pela ordem jurídica e sofrer as sanções por ela cominadas. O caráter principiológico da eficiência em nada compromete a sua força normativa. Indica, apenas, uma maior generalidade quando cotejada com as regras específicas que buscam conferir-lhe concretude e o fato de ostentar um peso, daí decorrendo o uso de técnicas próprias para solucionar as possíveis situações de colisão com outros princípios igualmente amparados pela ordem jurídica (Cf. GARCIA, 2015: 217 e ss.).
Especificamente em relação às normas constitucionais que conferem maior concretude à eficiência, podemos mencionar os deveres de (1) realizar concurso público, investindo na função pública aqueles que apresentem melhor preparo (art. 37, II), (2) conferir precedência à administração fazendária e aos fiscais dentro de sua área de competência (art. 37, XVIII), permitindo o aumento da arrecadação, (3) licitar, de modo a selecionar as melhores propostas (art. 37, XXI), (4) garantir, com prioridade, recursos financeiros para que a administração tributária realize suas atividades (art. 37, XXII), (5) observar, na gestão financeira e orçamentária, a legalidade, a legitimidade e a economicidade (art. 70, caput), indicativo de que o agente deve cumprir os fins determinados pela lei despendendo o menor quantitativo possível de recursos. A análise dessas normas evidencia que a ratio essendi da eficiência é, realmente, a de alcançar os melhores resultados.
O dever de alcançar o melhor resultado deve ser devidamente compreendido ao ser cotejado com a liberdade valorativa que a lei costuma outorgar aos agentes públicos, formando o que se convencionou denominar de “poder discricionário”. Essa liberdade decorre da impossibilidade de a lei definir, a priori, a melhor solução a ser adotada, sendo preferível permitir, à autoridade competente, uma melhor valoração das circunstâncias subjacentes ao caso concreto e a escolha, dentre dois ou mais comportamentos possíveis, todos amparados pela ordem jurídica, daquele que se mostre mais consentâneo com a satisfação do interesse público. A escolha desses comportamentos se projetará de distintas maneiras sobre os elementos do ato administrativo, podendo, regra geral, recair sobre qualquer deles, isso com a única exceção da competência, cuja definição necessariamente antecede o exercício do poder.
Como ressaltado por Maurer (2009: 138), “o poder discricionário destina-se, acima de tudo, à justiça no caso particular” (Das Ermessen dient vor allem der Einzelfallgerechtigkeit). E, para tanto, de acordo com Gianini (1993: 49), a autoridade deve proceder à “ponderação comparativa dos vários interesses secundários (públicos, coletivos ou privados), em vista a um interesse primário”.
Na medida em que discricionariedade não se identifica com arbitrariedade, é factível que só se oferecem ao poder de escolha do agente público aquelas opções que se mostrem consentâneas com a ordem jurídica, não aquelas que dela destoem. E aqui surge um pequeno complicador em relação à eficiência. Caso ela seja contextualizada no âmbito das próprias escolhas que se abrem ao agente, será inevitável a constatação de que, no extremo, ela transmudará em vinculado aquilo que, na essência, é discricionário, isso ao tornar imperativa a opção por aquela que é considerada a melhor escolha. E, como a melhor escolha será mera projeção da juridicidade, será possível que o Poder Judiciário, sempre que provocado, se substitua ao agente democraticamente legitimado, de modo a indicar, ele próprio, a melhor escolha. Como esse entendimento redundaria na desconstrução dos próprios alicerces do sistema democrático, não nos parece seja ele o melhor.
A eficiência, em verdade, deve ser primordialmente aferida no momento da execução do ato, decorrente da escolha realizada pelo agente público com base no seu poder discricionário. Com isso, o resultado pretendido deve ser alcançado da melhor maneira possível. Se a Administração Pública, por exemplo, necessita de papel de distintas medidas, mas só dispõe de recursos para adquirir uma parte deles, cabe ao administrador decidir a qual deles dará prioridade. Mas, uma vez realizada a escolha, deve proceder à aquisição com estrita observância do princípio da eficiência, o que significa dizer que, ressalvadas as exceções legais, deve realizar o processo licitatório e adquirir o melhor papel possível pelo menor preço. O mesmo ocorrerá nos distintos contratos administrativos, não se devendo excluir, obviamente, a possibilidade de certos paradigmas de ordem jurídica influírem na limitação das escolhas possíveis (v.g.: a prioridade que, por força do art. 227, caput, da Constituição de 1988, deve ser assegurada às crianças e aos adolescentes, não permite que o administrador relegue os seus interesses a plano secundário).
Ao reconhecermos a existência do dever jurídico de eficiência, parte integrante e indissociável do referencial mais amplo de juridicidade, que reflete uma espécie de legalidade substancial, haveremos de reconhecer, também, que a sua violação, em linha de princípio, pode consubstanciar o ato de improbidade previsto no art. 11 da Lei nº 8.429/1992. Diz-se em linha de princípio por três razões básicas (Cf. GARCIA, 2015: 447 e ss.). De acordo com a primeira, para a configuração da improbidade administrativa, além do enquadramento formal da conduta na tipologia legal, é preciso seja observado um critério de proporcionalidade, de modo a excluir condutas que tenham pouco ou nenhum potencial lesivo (v.g.: jogar ao lixo uma caneta esferográfica que ainda possui um pouco de tinta). É sob a ótica da proporcionalidade que serão aferidos aspectos como a boa ou a má-fé do agente, a satisfação ou não do interesse público, a violação ou não a direitos individuais etc.. A segunda razão decorre da possibilidade de a violação à eficiência estar associada à prática de um ato de improbidade de maior gravidade, como é o caso do enriquecimento ilícito e do dano ao patrimônio público, previstos, respectivamente, nos arts. 9º e 10 da Lei nº 8.429/1992. Por fim, a terceira razão decorre da imprescindibilidade do dolo para a caracterização do ato de improbidade previsto no art. 11 da Lei nº 8.429/1992, o que exige reflexões quanto à denominada “escusa de incompetência”, que busca afastar o referido elemento subjetivo e, em consequência, atrair a figura da culpa, somente compatível com a tipologia do art. 10. É dessa temática que trataremos a seguir, de modo bem similar, aliás, ao que fizemos em monografia dedicada ao estudo da improbidade administrativa (Cf. GARCIA, 2015: 591 e ss.).
2. A escusa de incompetência
Como dissemos, o agir humano, quando voluntariamente direcionado à realização de um objetivo, sempre tem a pretensão de ser eficaz. Afinal, a própria existência da conduta decorre do objetivo de alcançar um resultado, bom ou ruim, conforme ou não às regras de convivência social. Com os olhos voltados à dogmática do direito sancionador, é possível afirmar que esse voluntarismo, como é intuitivo, se ajusta à concepção de dolo. Quando a vontade visa à consecução do resultado, sendo a conduta direcionada a ele, diz-se que o dolo é direto (teoria da vontade), o qual será tão mais grave quanto mais vencível era o impulso que direcionou o agente ao ilícito. Nos casos em que a vontade prevê a provável consecução do resultado, mas, apesar disso, a conduta é praticada, consentindo o agente com o advento daquele, fala-se em dolo eventual (teoria do consentimento).
A culpa, por sua vez, é caracterizada pela prática voluntária de um ato sem a atenção ou o cuidado normalmente empregados para prever ou evitar o resultado ilícito. Enquanto o voluntarismo, no dolo, alcança a ação ou a omissão e o resultado, na culpa, ele costuma permanecer adstrito à ação ou à omissão. Como afirmado por Wolf, lembrado por Carrara (1956: 83), “[a] incorreção representada pelo dolo provém da fraqueza da vontade, e a incorreção que a culpa representa provém da debilidade do intelecto”, tendo esse último Mestre acrescido que “[o] não ter previsto a consequência ofensiva distingue a culpa do dolo. O não havê-la podido prever separa o caso fortuito da culpa” (1956: 92).
Ainda é relevante distinguir o dolo eventual da denominada culpa consciente. No primeiro, o agente prevê o resultado provável de sua conduta e consente com a sua ocorrência; na segunda, o resultado é igualmente previsto, mas o agente espera sinceramente que ele não ocorra, confiando na eficácia de uma habilidade que será utilizada na prática do ato.
A partir dos lineamentos básicos do dolo e da culpa, é possível analisar o enquadramento teórico da denominada escusa de incompetência. De início, cumpre observar que a incompetência aqui referida diz respeito à inépcia do agente público no exercício de sua função, o que pode decorrer de pura limitação intelectiva ou da falta de conhecimento, técnico ou não, para a correta prática de um determinado ato. Nesse particular, verifica-se que o mais comum é a alegação de desconhecimento das normas legais. A incompetência, como se percebe, não se identifica com o referencial de imperícia. Essa assertiva decorre da constatação de que o agente não chega a fazer mal uso de uma regra técnica, ignorando o resultado a ser alcançado. Ele age voluntariamente e almeja o resultado a ser alcançado. O dolo, portanto, está caracterizado.
Apesar de o dolo estar caracterizado, é preciso aferir se o alegado desconhecimento dos padrões de juridicidade que deveriam ser observados pelo agente é suficiente para afastar a sua responsabilidade pelo ato praticado. O desconhecimento, em linha de princípio, poderia caracterizar o erro de direito, que configura uma excludente de responsabilidade a ser necessariamente reconhecida em qualquer sistema sancionador. Afinal, o objetivo da sanção é o de restabelecer a juridicidade e impor restrições à esfera jurídica do responsável pela sua violação. Isso, à evidência, pressupõe a presença do voluntarismo não só quanto à ação ou omissão, como, também, em relação à própria violação à juridicidade. É preciso que o agente, voluntariamente, viole a juridicidade.
Quando analisada sob a ótica do erro de direito, a escusa de incompetência apresenta algumas especificidades que distinguem a situação do agente público daquela afeta aos demais indivíduos que integram o ambiente sociopolítico. Enquanto os indivíduos em geral são alcançados pela presunção de que todos conhecem a lei, o que impede venham a invocar o seu desconhecimento para eximir-se de cumpri-la,[1] os agentes públicos, além desse dever genérico, possuem o dever específico de observar as normas regentes da Administração Pública, dentre as quais se insere o princípio da eficiência. Outro aspecto digno de nota é que, diversamente ao vínculo existente com um determinado Estado de Direito, somente passível de ser dissolvido em situações pontuais e que não chega a ser propriamente uma opção para o homo medius, a maior parte dos agentes públicos, ressalvadas as exceções contempladas pela ordem jurídica (v.g.: jurados e mesários são convocados a exercer a sua função), desempenha a função pública de modo voluntário.
É factível, portanto, que o erro de direito apresenta uma configuração distinta quando invocado por um indivíduo comum ou quando seja suscitado por um agente público. O primeiro está sujeito às normas gerais de direito sancionador pelo só fato de estar no território do Estado, enquanto o agente público se submeterá a um conjunto de normas específicas, como é o caso da Lei nº 8.429/1992, pelo fato de ter voluntariamente (regra geral) adquirido esse status. Se o indivíduo se habilita, voluntariamente, a desempenhar o munus de agente público, é fácil concluir que a força argumentativa da escusa de incompetência, que já não é grande em relação aos indivíduos em geral, isso sob pena de o referencial de juridicidade e a própria subsistência do agregado social estarem sob risco, somente poderá ser aceita em situações excepcionalíssimas.
No direito norte-americano, merece referência a willful blindness doctrine (doutrina da cegueira deliberada), invocada nas situações em que o agente procura evitar a sua responsabilização por um ato ilícito mantendo-se deliberadamente distante dos fatos que possam acarretar a sua responsabilização. Nesse caso, o distanciamento costuma ter o propósito de permitir a obtenção de vantagens indevidas, mas dificultar a formação da cadeia de causalidade. A Suprema Corte norte-americana aplicou essa teoria no caso Global Tech Applicances, Inc. v. Seb S.A. (563 U.S. ___, 2011), em que se discutia a inobservância da legislação de patentes, máxime do dever jurídico de verificar se determinada ação colidia com patente pré-concedida. Cf. WERHANE, HARTMAN, PINIUS, ARCHER, ENGLEHARDT e PRITCHARD, 2013: 122-123.
Cremos que deva haver certa parcimônia em relação aos indivíduos que foram convocados a exercer a função pública. Afinal, o fato de não terem desejado assumir esse status enfraquece a presunção de que estavam plenamente qualificados a desempenhar o respectivo munus. Em relação aos agentes públicos voluntários, a regra deve ser a inadmissibilidade da escusa de incompetência. No entanto, não é de se excluir a possibilidade de as circunstâncias do caso justificarem o surgimento, no agente público, da crença de estar atuando em harmonia com a juridicidade. É factível, no entanto, que essa crença tende a ser inversamente proporcional ao potencial lesivo da conduta para o interesse público. E isso por uma razão muito simples: quanto mais relevantes forem os interesses tutelados pela juridicidade, mais intenso é o dever jurídico de o agente público conhecê-los. É o que ocorre, por exemplo, em relação ao dever de realizar concurso público, de licitar, de respeitar os balizamentos oferecidos pelas leis orçamentárias, de prestar contas etc.. Situação diversa ocorrerá em relação à inobservância de pormenores de ordem formal, os quais, em razão de práticas administrativas reiteradas, podem vir a ser repetidos de modo acrítico, ou, mesmo, em relação ao cumprimento de lei flagrantemente inconstitucional, que destoa de qualquer referencial de eficiência, genérico ou específico, mais que está em vigor há vários anos e jamais teve a sua eficácia contestada.
O que se nos afigura absolutamente inconcebível é que a escusa de incompetência seja simplesmente acolhida como se fosse algo natural e, mesmo, inerente ao ambiente administrativo. Entendimento dessa natureza, além de afastar a imperatividade das normas constitucionais e legais, simplesmente inviabilizaria a subsistência de qualquer sistema sancionador.
Um verdadeiro símbolo da incompreensão dos contornos dogmáticos e dos efeitos perversos decorrentes da escusa de incompetência é o acórdão proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 17 de agosto de 1999, no julgamento do Recurso Especial nº 213.994. Esse acórdão contou com a seguinte ementa:
“Administrativo. Responsabilidade de Prefeito. Contratação de pessoal sem concurso público. Ausência de prejuízo. Não havendo enriquecimento ilícito e nem prejuízo ao erário municipal, mas inabilidade do administrador, não cabem as punições previstas na Lei 8.429/1992. A lei alcança o administrador desonesto, não o inábil. Recurso improvido”.
Desde então, o bordão “a lei alcança o administrador desonesto, não o inábil” tem sido repetido de modo acrítico por diversos segmentos da doutrina e da jurisprudência, inclusive do próprio Superior Tribunal de Justiça. O mais curioso é que as proposições oferecidas por esse bordão não passam de puras exortações retóricas, sem qualquer densidade para ultrapassar o imaginário individual e encontrar receptividade na ordem jurídica.
Em primeiro lugar, é simplesmente errada a afirmação de que a Lei nº 8.429/1992 só alcança o “administrador desonesto”.
Consoante o art. 37, § 4º, da Constituição de 1988, “[o]s atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”. Caberia à norma infraconstitucional associar os atos de improbidade às sanções correspondentes, estabelecendo, ainda, um escalonamento entre eles, consoante a sua gravidade, daí decorrendo a cominação de sanções mais severas ou mais brandas. Acresça-se, ainda, que o art. 37 da Constituição de 1988 veicula uma série de regras e princípios regentes da atividade estatal, todos vinculantes para os agentes públicos.
No plano infraconstitucional, o § 4º do art. 37 foi regulamentado pela Lei nº 8.429/1992, que delineou três espécies distintas de atos de improbidade, que são (1) o enriquecimento ilícito, (2) o dano ao patrimônio público e (3) a violação aos princípios regentes da atividade estatal, sendo sabido por todos que estes últimos podem veicular diversos conteúdos distintos (v.g.: princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da eficiência etc.). Portanto, é possível concluir que a própria lei, partindo de um comando constitucional, indicou o que se deveria entender por atos de improbidade. Com isso, o significado dessa expressão se desprendeu da linguagem ordinária e adentrou no domínio da linguagem jurídica.
Com os olhos voltados às três espécies de atos de improbidade, constata-se que a noção de desonestidade, recorrente em relação ao enriquecimento ilícito, regra geral, não estará presente quando o ato simplesmente causar dano ao patrimônio público ou violar os princípios regentes da atividade estatal. Não é demais lembrar, aliás, que a própria tipologia do art. 11 evidencia que a desonestidade não é o fator único a ser considerado pelo operador do direito, isso ao dispor que “[c]onstitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições...”.
A prescindibilidade da desonestidade para a configuração do ato de improbidade torna-se nítida com um exemplo bem singelo, que já mencionamos em outras oportunidades. É o caso de um Prefeito Municipal que, em razão de sua origem humilde, valoriza o trabalho e a família e pouca importância dá ao estudo, o qual, aliás, jamais esteve ao seu alcance. Por ver na educação não mais que uma frívola vaidade, utiliza recursos vinculados, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), instituído pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494/2007, para a construção de um monumento à família. A aplicação dos recursos em finalidade diversa da legal impossibilita a aquisição de merenda para as crianças e o pagamento dos docentes, que paralisam suas atividades. Por desconsiderar a prioridade absoluta de que gozam as crianças e os adolescentes (CR/1988, art. 227, caput), afrontar a ordem constitucional e infraconstitucional, bem como por realizar um ato nitidamente ineficiente, de pouca importância quando cotejado com o bem jurídico violado, afigura-se evidente a prática do ato de improbidade administrativa descrito no art. 11, I, da Lei nº 8.429/1992: “praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência”. Conquanto esteja evidenciada a vontade de descumprir a lei, não há propriamente má-fé ou desonestidade na conduta do agente público, o que em nada ameniza a extrema lesividade de sua conduta.
Avançando na análise das proposições oferecidas pelo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, é igualmente errada a assertiva de que a Lei nº 8.429/1992 não visa a punir o administrador “inábil”. A inabilidade caminha em norte contrário à eficiência, que tanto consubstancia um dever jurídico de natureza genérica, veiculado no princípio homônimo consagrado no texto constitucional, como uma pluralidade de deveres específicos. Portanto, o ato administrativo inábil encontrará imediato enquadramento na tipologia do art. 11. Por outro lado, é plenamente possível que, apesar dessa adequação de ordem tipológica, a incidência da Lei nº 8.429/1992 seja afastada a partir da análise do critério de proporcionalidade ou, mesmo, em razão de um erro de direito plenamente escusável, possibilidade extremamente rara em se tratando de indivíduos que voluntariamente adquiriram o status de agentes públicos.
3. Epílogo
Em razão da própria funcionalidade da ordem jurídica, que não destoa de referenciais de justiça e ordenação, deve o intérprete partir da premissa de que os enunciados normativos possuem objetivos lógicos e racionais (Cf. FALCON, 1991: 19), dando origem a normas igualmente lógicas e racionais. Ao atribuir força normativa ao referencial de eficiência e dispor que a legislação infraconstitucional deveria delinear os atos de improbidade administrativa, a Constituição de 1988 estabeleceu a base de desenvolvimento do contraponto à injuridicidade, que recebeu a devida integração pela Lei nº 8.429/1992.
Vulgarizar a escusa de incompetência significa, em última ratio, comprometer a própria organicidade da ordem jurídica. Dever desconectado de sanção somente é considerado como tal no plano idealístico-formal, sendo vítima indefesa da erosão dos valores do ambiente sociopolítico.
A escusa de incompetência, enquanto fator de caracterização do erro de direito, somente deve ser reconhecida em situações excepcionalíssimas, não vulgarizada ao ponto de suprimir a eficácia do aparato sancionador e tornar o dever de eficiência não mais que um frívolo adorno.
Referências bibliográficas
CARRARA, Francesco. Programa de Direito criminal, Parte Geral, vol. I. Trad. de FRANCESCHINI, José Luiz V. de e BARRA, J. R. Prestes. São Paulo: Saraiva, 1956.
FALCON, Giandomenico. Lineamenti di Diritto Pubblico. 3ª ed. Padova: CEDAM, 1991.
GARCIA, Emerson. Conflito entre Normas Constitucionais. Esboço de uma Teoria Geral. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015.
__________ e ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 8ª ed., 2ª tiragem. São Paulo: Editora Saraiva, 2015.
GIANINI, Massimo Severo. Diritto Amministrativo, vol. 2o. 3a ed. Milano: D. A. Giufrrè Editore, 1993.
MAURER, Hartmut. Allgemeines Verwaltungsrecht. 17ª ed. München: Verlag C. H. Beck, 2009.
VON WRIGHT, Georg Henrik. Images of Science and Forms of Rationality, in The tree of knowledge and other essays, Leiden: Brill, 1993, p. 172-192.
WERHANE, Patricia H, HARTMAN, PINIUS, Laura, ARCHER, Crina, ENGLEHARDT, Elaine E. e PRITCHARD, Michael S.. Obstacles to Ethical Decision-Making. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.