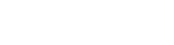A evolução do Estado brasileiro tem sido historicamente caracterizada por um nítido descompasso entre os sistemas de responsabilização e a realidade, principalmente no que que diz respeito à punição das elites. Esse lamentável quadro começou a passar por um período de refluxo nas duas últimas décadas, fruto inevitável do processo de redemocratização do País, ainda em curso, é importante frisar. Além da mudança de mentalidade da população e dos detentores do poder, não é exagero afirmar que a Lei nº 8.429/1992, também conhecida como Lei de Improbidade Administrativa, desempenhou um importante papel nesse processo. O objetivo destas breves linhas é justamente o de analisar a submissão dos agentes políticos, parte indissociável das elites a que nos referimos, a esse sistema de responsabilização.
Sumário: 1. Considerações iniciais. 2. A distinção entre crimes de responsabilidade e atos de improbidade administrativa. 3. Epílogo.
- Considerações iniciais
A evolução histórica do Estado brasileiro tem demonstrado que a punição das elites políticas nunca foi uma prioridade para as estruturas estatais de poder. Não bastasse a inegável influência do poder político, particularmente deletéria em um país onde o fisiologismo e o patrimonialismo parecem misturar-se à própria concepção de Administração Pública, o sistema sempre foi cuidadosamente estruturado para que a reprimenda jamais alcançasse a realidade. O processo e o julgamento de certas autoridades são concentrados nos Tribunais, sendo mais que insignificante o índice de condenações, e, em inúmeros casos, o Poder Judiciário carecia de autorização política para a própria instauração do processo judicial.
Com a redemocratização do País, é perceptível que, pouco a pouco, esse lamentável quadro começa a ser alterado. Apesar de o foro por prerrogativa de função persistir em terra brasilis, as modificações introduzidas pela EC nº 35/2001, dispensando a autorização da Casa Legislativa para que parlamentares fossem processados, ao que se somam condenações paradigmáticas realizadas pelo Supremo Tribunal Federal no limiar do século XXI, fizeram que o tradicional desencanto cedesse lugar ao fulgurar de uma intensa esperança.
Nesse processo de desconstrução de antigos paradigmas, é digno de realce o papel desempenhado pela Lei nº 8.429/1992, que regulamentou o disposto no art. 37, § 4º, da Constituição da República. Múltiplos são os aspectos que singularizam a denominada “Lei de Improbidade Administrativa”. Em primeiro lugar, foi proposta e sancionada pelo Presidente Fernando Collor de Mello, primeiro e único Chefe de Estado brasileiro a ser afastado do cargo num processo de impeachment. Além disso, instituiu uma nova esfera de responsabilização, que coexiste com as tradicionais esferas de natureza penal, administrativa e política. Por fim, alcança todo agente que mantenha contato com o dinheiro público, ainda que sua atividade seja estritamente privada, bem como aqueles que possuam algum tipo de vínculo com o Poder Público.
Ao dispor sobre os sujeitos ativos em potencial dos atos de improbidade administrativa, a Lei nº 8.429/1992 utilizou expressão linguística de inegável amplitude. De acordo com o seu art. 2º, “[r]eputa-se agente público, para os efeitos desta Lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior”. É perceptível que a concepção de agente público, vale dizer, o sujeito ativo do ato de improbidade, foi delineada a partir da identificação do sujeito passivo.[1]
O art. 1º da Lei nº 8.429/1992 considerou atos de improbidade aqueles praticados em detrimento: a) da administração direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, dos Municípios ou do Distrito Federal; b) de empresa incorporada ao patrimônio público, o que, salvo melhor juízo, denota que esse ente deixou de ter individualidade; própria e suas atividades foram absorvidas pelo ente incorporador, sendo este, não aquele, o verdadeiro sujeito passivo do ato, ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual; c) do patrimônio de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, ou que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público.
Para os fins de nossa análise, especificamente voltada à situação dos agentes políticos, observa-se que são alcançados pela Lei nº 8.429/1992 todos aqueles que desempenham alguma atividade junto à administração direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, os quais são tradicionalmente enquadrados sob a epígrafe dos agentes públicos em sentido lato.
A estrutura do art. 2º da Lei nº 8.429/1992 permite concluir que à expressão agente público foi atribuída considerável amplitude. Afinal, é irrelevante (a) o lapso de exercício das atividades, que pode ser transitório ou duradouro; (b) a contraprestação pelas atividades, que podem ser gratuitas ou remuneradas; c) a origem da relação, sendo alcançadas todas as situações possíveis, como eleição, nomeação, designação, contratação “ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo”; e (d) a natureza da relação mantida com os entes elencados no art. 1º, estendendo-se ao mandato, ao cargo, ao emprego ou à função.
Apesar da ausência de uniformidade nessa seara, podemos identificar as seguintes categorias de agentes públicos: agentes políticos, agentes particulares colaboradores, servidores públicos e agentes meramente particulares.
Agentes políticos são aqueles que, no âmbito do respectivo Poder, desempenham as funções políticas de direção previstas na Constituição, normalmente de forma transitória, sendo a investidura realizada por meio de eleição (no Executivo, Presidente, Governadores, Prefeitos e, no Legislativo, Senadores, Deputados Federais, Deputados Estaduais, Deputados Distritais e Vereadores) ou nomeação direta (Ministros e Secretários Estaduais e Municipais). Antiga doutrina, capitaneada por Hely Lopes Meirelles[2], sustentava que os membros do Ministério Público, do Poder Judiciário e dos Tribunais de Contas, por atuarem com independência funcional, também são agentes políticos. Nesse caso, o fato de o agente não estar funcionalmente sujeito ao princípio hierárquico permitiria o seu enquadramento nessa categoria. Esse enquadramento é combatido por diversos doutrinadores, que restringem o conceito de agentes políticos à concepção de governo e função política, implicando capacidade de fixação de metas, diretrizes e planos governamentais, com o que concordamos.
Agentes particulares colaboradores, por sua vez, são os que executam determinadas funções de natureza pública (v.g.: delegatários das serventias do registro público), por vezes de forma transitória e sem remuneração (ex.: juízes leigos dos Juizados Especiais, jurados, mesários, escrutinadores, representantes da sociedade civil em conselhos etc.), abrangendo, para os fins da Lei nº 8.429/1992, aqueles que tenham sido contratados especificamente para o exercício de determinada tarefa ou para o oferecimento de um serviço público (ex.: concessionários e permissionários de serviços públicos).
Servidores públicos são aqueles que, independentemente do regime jurídico a que estejam submetidos, possuem um vínculo permanente com os entes da Administração Direta ou Indireta, desempenham funções próprias destes últimos ou outras úteis à sua consecução e são remunerados por seus serviços, estando aqui incluídos os membros do Ministério Público, do Poder Judiciário e dos Tribunais de Contas. São normalmente subdivididos em duas categorias básicas, a dos servidores civis e a dos militares.
Por fim, agentes meramente particulares são todos os que não executam nenhuma função de natureza pública e mantêm um vínculo com o ente recebedor de numerário público (ex.: sócio de empresa beneficiária de incentivos fiscais) Estes últimos não realizam nenhuma atividade no âmbito das estruturas estatais de poder, não se submetem ao regime jurídico próprio dos servidores públicos, não estão sujeitos às limitações que os alcançam àqueles (v.g.: incompatibilidades), mas estão sujeitos à disciplina da Lei nº 8.429/1992.
Não obstante a amplitude do art. 2º da Lei nº 8.429/1992, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Reclamação nº 2.138/2002, acolheu a tese de que Ministros de Estados não praticariam atos de improbidade, mas tão somente crimes de responsabilidade. Essa tese chegou a ser amplificada nas instâncias ordinárias, sendo construído o seguinte arremedo de silogismo: (a) como os Ministros de Estados não praticam atos de improbidade e (b) Ministros de Estado são agentes políticos, (c) nenhum agente político pratica ato de improbidade. Algo parecido com a construção de que golfinhos são mamíferos e, como golfinhos vivem na água, todos os mamíferos são seres aquáticos.
Não bastasse a manifesta incompatibilidade dessa construção com qualquer referencial de lógica argumentativa, é factível que crimes de responsabilidade e atos de improbidade se ajustam a instâncias independentes de responsabilização, sendo injurídico que uma seja tomada pela outra.
- A distinção entre crimes de responsabilidade e atos de improbidade administrativa[3]
Os denominados crimes de responsabilidade encontram inspiração no processo de impeachment do direito anglo-saxão. O impeachment, desde a sua gênese, é tratado como um instituto de natureza político-constitucional que busca afastar o agente de um cargo público que demonstrou não ter aptidão para ocupar, em nada se confundindo com outras esferas de responsabilização, como a penal. No direito penal, a perda do cargo e a inabilitação para o exercício de outra função pública costumam ser meros efeitos da condenação, enquanto, no processo de impeachment, são os próprios fins perseguidos. Em um caso, busca-se punir o infrator; no outro, privá-lo do poder.[4]
O processo de impeachment tem raízes no direito inglês, em que os ministros do Rei eram responsabilizados, perante o Parlamento, pelos atos ilegais do governo. A regra “the king can do no wrong” não significava propriamente que todos os atos do Rei eram legais, mas, sim, que a responsabilidade recairia sobre os seus ministros.[5]
O impeachment evoluiu de modo que todos os agentes públicos poderiam ser acusados, pela House of Commons, por traição, corrupção e outros crimes graves, sendo o julgamento de competência da House of Lords. No decorrer do Século XVII, o impeachment foi uma importante arma no combate às políticas reais impopulares. O último julgamento dessa natureza foi o de Lord Melville, que, em 1806, foi acusado de corrupção. Atualmente, o Parlamento possui mecanismos mais eficazes para apurar a responsabilidade ministerial (v.g.: voto de desconfiança), estando o processo de impeachment francamente ultrapassado. Trata-se de consequência lógica do fortalecimento do Parlamento, que assumiu uma posição hegemônica na escolha dos membros do governo, intensificando o seu controle e facilitando a sua substituição.
A fórmula foi transposta para o direito norte-americano, em que o Presidente, o Vice-Presidente e todos os funcionários civis estão sujeitos a processo de impeachment por traição, corrupção ou outros graves crimes.[6] A exemplo do modelo britânico, as atividades de acusação e julgamento foram divididas entre as duas Casas Legislativas. É um processo de contornos essencialmente políticos, atuando como nítido elemento de contenção, pelo Poder Legislativo, dos atos discricionários emanados dos altos funcionários do País. A utilização do sistema presidencialista de governo, com uma separação mais intensa entre as funções executiva e legislativa, tem conferido singular importância ao processo de impeachment, sendo um dos principais canais de controle do Executivo.
No direito brasileiro, que se assemelha ao norte-americano no sistema de governo e nos objetivos a serem alcançados com processos dessa natureza, merece referência a Exposição de Motivos que acompanhou a Lei nº 1.079/1950. Ao tratar do iter a ser seguido na persecução dos crimes de responsabilidade, dispôs que “ao conjunto de providências e medidas que o constituem, dá-se o nome de processo, porque este é o termo genérico com que se designam os atos de acusação, defesa e julgamento, mas é, em última análise, um processo sui generis, que não se confunde e se não pode confundir com o processo judiciário, porque promana de outros fundamentos e visa outros fins”.[7]
Conquanto seja induvidoso que, no sistema brasileiro, a ratio da tipificação, do julgamento e do sancionamento dos crimes de responsabilidade seja cessar o vínculo jurídico-funcional do infrator com o Poder Público, impedindo o seu restabelecimento durante certo período, a sua natureza puramente política não é estreme de dúvidas. Afinal, em alguns casos, o processo e o julgamento são deslocados do Poder Legislativo para o Judiciário, o que confere um colorido distinto aos atos a serem praticados.
Assim, a primeira dificuldade que se encontra é identificar o que vem a ser crimes de responsabilidade, proposição que enseja não poucas dúvidas e perplexidades. Para o Presidente da República, crime de responsabilidade é uma infração político-administrativa que enseja a realização de um julgamento político (sem necessidade de fundamentação) perante o Senado Federal.[8] Para o Ministro de Estado, é uma infração associada a atos políticos e administrativos que redunda num julgamento totalmente jurídico (com a necessidade de fundamentação) perante o Supremo Tribunal Federal.[9] Para o Prefeito Municipal, é um crime comum, que o expõe a uma pena de prisão.[10] E, para os Senadores, Deputados e Vereadores? Não é nada. Em outras palavras, esses agentes não se enquadram na tipologia dos crimes de responsabilidade, estando sujeitos, unicamente, ao controle político realizado no âmbito do próprio Parlamento, o que, eventualmente, pode resultar na perda do mandato. Como única exceção, pode ser mencionado o crime de responsabilidade passível de ser praticado pelo Presidente da Câmara dos Vereadores que gastar mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com subsídio de seus Vereadores (CR/1988, art. 29-A, §§ 1º e 3º), o que ainda depende de regulamentação pela legislação infraconstitucional.
Ainda merece referência a circunstância de que outros agentes mencionados na Constituição da República como autores em potencial dos crimes de responsabilidade (v.g.: membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público – art. 52, II) sequer são alcançados pela tipologia da Lei nº 1.079/1950, o que simplesmente inviabiliza a sua punição.
À luz dessas considerações iniciais, já se pode constatar que o questionamento sobre a natureza jurídica dos crimes de responsabilidade não comporta uma resposta linear. Para alguns agentes, trata-se de ilícito que ensejará um julgamento jurídico e, para outros, um julgamento político, isso para não falarmos daqueles que sequer são alcançados pela tipologia legal.[11]
A tese de que os agentes políticos somente podem praticar crimes de responsabilidade foi encampada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação nº 2.138/2002. Argumentou-se que boa parte dos atos de improbidade administrativa encontram correspondência na tipologia da Lei nº 1.079/1950,[12] que “define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo e julgamento”, o que seria suficiente para demonstrar que o crime de responsabilidade absorveria o ato de improbidade. Além disso, o próprio texto constitucional, em seu art. 85, V, teria recepcionado esse entendimento ao dispor que o Presidente da República praticaria crime de responsabilidade sempre que atentasse contra a probidade na administração, o que possibilitaria o seu impeachment. Em consequência, prevaleceu a seguinte linha argumentativa: (1) o Tribunal é competente para processar os Ministros de Estado por crime de responsabilidade, (2) qualquer atentado à probidade configura crime de responsabilidade e, consequentemente, (3) o juiz federal de primeira instância, ao reconhecer-se competente para julgar Ministro de Estado, que utilizara aviões da FAB para desfrutar momentos de lazer em Fernando de Noronha (praxe administrativa, segundo o agente), usurpou a competência do Tribunal.
A tese de que a Lei de Improbidade veicularia crimes de responsabilidade encontrou pouco prestígio na doutrina e nenhuma adesão na jurisprudência. Não se pode negar, no entanto, que o caso submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal, por envolver Ministro de Estado, representava uma situação verdadeiramente singular. Afinal, esse agente, a exemplo dos demais referidos no art. 102, I, c, da Constituição de 1988, quando pratica crimes de responsabilidade, é submetido a um julgamento estritamente jurídico perante o Supremo Tribunal Federal. Desse modo, a partir de uma tipologia semelhante, o agente estaria sujeito a duas esferas jurídicas distintas de responsabilização jurídica, a dos crimes de responsabilidade e a dos atos de improbidade, o que, aos olhos do Tribunal, pareceu inadequado.
Avançando nos alicerces estruturais da curiosa e criativa “tese”, observa-se que o parágrafo único do art. 85 da Constituição da República dispõe que esse tipo de crime seria definido em “lei especial”, logo, nada mais “natural” que concluir que a Lei de Improbidade faz às vezes de tal lei. Afinal, se é crime de responsabilidade atentar contra a probidade, qualquer conduta que consubstancie improbidade administrativa será, em última ratio, crime de responsabilidade.
Com a devida vênia daqueles que encampam esse entendimento, não tem ele a mínima plausibilidade jurídica. Entender que ao Legislativo é defeso atribuir consequências criminais, cíveis, políticas ou administrativas a um mesmo fato, inclusive com identidade de tipologia, é algo novo na ciência jurídica. Se o Constituinte não impôs tal vedação, será legítimo ao pseudo-intérprete impô-la? Não é demais lembrar que o próprio substitutivo ao Projeto de Lei nº 1446/1991, apresentado pelo Senado e que redundou na Lei nº 8.429/1992, era expresso ao reconhecer que os atos de improbidade (principal) também configuravam crimes de responsabilidade (secundário), sendo certo que “a instauração de procedimento para apurar crime de responsabilidade não impede nem suspende o inquérito ou processo judicial referido nesta Lei” (art. 11). Percebe-se, assim, a difusão do entendimento de que são figuras distintas, bem como que a interpenetração dos sistemas dependeria de previsão legal expressa.
E, o pior, é crível a tese de que a Lei nº 1.079/1950 é especial em relação à Lei nº 8.429/1992, culminado em absorver a última? Não pode o agente público responder por seus atos em diferentes instâncias, todas previamente definidas e individualizadas pelo Legislador? Como é fácil perceber, é por demais difícil sustentar que uma resposta positiva a esses questionamentos possa ser amparada pela Constituição, pela moral ou pela razão.
Não se pode perder de vista que a própria Constituição faz referência, separadamente, a “atos de improbidade”[13] e a “crimes de responsabilidade”,[14] remetendo a sua definição para a legislação infraconstitucional.[15] Como se constata, por imperativo constitucional, as figuras coexistem. Além disso, como ensejam sanções diversas, por vezes aplicadas em esferas distintas (jurisdicional e política), não se pode falar, sequer, em bis in idem. Não é demais lembrar que a funcionalidade do processo por crime de responsabilidade é afastar o agente do poder, não propriamente impor restrições aos distintos aspectos de sua esfera jurídica alcançados pela Lei nº 8.429/1992.
Com escusas pela obviedade, pode-se afirmar que a Lei nº 1.079/1950 é a lei especial a que refere o parágrafo único do art. 85 da Constituição, enquanto a Lei nº 8.429/1992 é a lei a que se refere o parágrafo 4º do art. 37. Esse aspecto tornou-se bem nítido com a promulgação da Emenda Constitucional nº 62/2009, que, além de estabelecer uma nova sistemática para o pagamento de precatórios, incluiu um preceito no ADCT dispondo, como consequência para a inobservância dessas regras, que “o chefe do Poder Executivo responderá na forma da legislação de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa” (art. 97, § 10, III). Não obstante a declaração de inconstitucionalidade do art. 97 do ADCT, já que instituíra, à margem da Constituição, um regime diferenciado para o pagamento dos precatórios,[16] era nítida a plena integração ao sistema da referência á improbidade administrativa.
Acresça-se que o “entendimento” externado na Reclamação nº 2.138/2002 simplesmente ignora a realidade brasileira e os elevados níveis de ilicitude que são frequentemente praticados pelos altos escalões do poder. Ignora, igualmente, ser de todo incompatível com qualquer referencial de racionalidade e coerência lógica que, em um ambiente hierarquizado, como sói ser aquele inerente à Administração Pública, seja excluída a responsabilidade justamente dos altos escalões do poder. Afinal, com escusas pela obviedade, o exemplo há de vir sempre de cima, máxime porque, regra geral, as decisões são tomadas pelos escalões superiores e simplesmente executadas pelos inferiores.
Não é possível alcançar conclusão outra que não a de que o referido “entendimento” foi engendrado de tocaia para inutilizar o único instrumento sério de combate à improbidade em um país assolado pelo desmando e pela impunidade. Espera-se, ao final, seja ele revisto, mas o simples fato de ter sido arquitetado e posto em prática bem demonstra que não será fácil elevar o Brasil das sombras à luz.
Como afirmou o Ministro Carlos Velloso, a tese “é um convite para a corrupção”, conclusão clara na medida em que servirá de bill of indemnity para os autos escalões do poder. Na medida em que estarão imunes à Lei de Improbidade, é fácil imaginar que neles será concentrado todo o poder de decisão, sujeitando-os, tão somente, à responsabilização nas esferas política e criminal, cuja ineficácia não precisa ser lembrada ou explicada.
O Ministro Joaquim Barbosa, no voto divergente que proferiu na Reclamação nº 2.138/2002, externou uma perplexidade que, arriscaríamos dizer, é compartilhada por grande parte da comunidade jurídica nacional. Eis suas considerações: “a proposta que vem obtendo acolhida até o momento nesta Corte, no meu modo de entender, além de absolutamente inconstitucional, é a-histórica e reacionária, na medida em que ela anula algumas das conquistas civilizatórias mais preciosas obtidas pelo homem desde as revoluções do final do século XVIII. Ela propõe nada mais, nada menos, do que o retorno à barbárie da época do absolutismo, propõe o retorno a uma época em que certas classes de pessoas tinham o privilégio de não se submeterem às regras em princípio aplicáveis a todos, tinham a prerrogativa de terem o seu ordenamento jurídico próprio, particular. Trata-se, como já afirmei, de um gigantesco retrocesso institucional. Na perspectiva da notável evolução institucional experimentada pelo nosso país nas últimas duas décadas, cuida-se, a meu sentir, de uma lamentável tentativa de rebananização da nossa República! Eu creio que o Supremo Tribunal Federal, pelo seu passado, pela sua credibilidade, pelas justas expectativas que suscita, não deve embarcar nessa aventura arriscada”.
Deve-se observar que, no mesmo dia em que ultimou o julgamento da Reclamação nº 2.138/2002, o Supremo Tribunal Federal apreciou a Petição nº 3.923,[17] tendo decidido que caberia ao juiz de primeira instância realizar a execução de decisão judicial que condenara um Deputado Federal por ato de improbidade, praticado quando ocupara o cargo de Prefeito Municipal de São Paulo. Na ocasião, restou assentado que o Supremo Tribunal Federal não poderia transmudar-se em mero executor de uma decisão transitada em julgado. Em obiter dictum, diversos Ministros que não participaram do julgamento da Reclamação nº 2.138/2002 reconheceram expressamente que agentes políticos podem ser responsabilizados por ato de improbidade administrativa, sem direito a foro por prerrogativa de função. De qualquer modo, o que se verifica é que o Tribunal jamais comungou da tese de que nenhum agente político está sujeito aos ditames da Lei nº 8.429/1992.
O Superior Tribunal de Justiça, do mesmo modo, não estendeu o entendimento adotado na Reclamação nº 2.138/2002 aos demais agentes políticos. Em relação aos Prefeitos, o Tribunal sedimentou a sua jurisprudência no sentido de que estão sujeitos, simultaneamente, ao crivo do Decreto-Lei nº 201/1967 e à Lei nº 8.429/1992, não sendo alcançados, obviamente, pela Lei nº 1.079/1950.[18] Idêntico entendimento prevaleceu em relação aos Vereadores.[19] Ao deparar-se com a tese de que os magistrados de primeiro grau são agentes políticos, o Tribunal decidiu que eles “submetem-se aos ditames da Lei 8.429/92, porquanto não participam do rol daquelas autoridades que estão submetidas à Lei nº 1.070/1950, podendo responder por seus atos administrativos na via da ação civil pública de improbidade administrativa”.[20] No que diz respeito ao Presidente da República, o Tribunal, sem que ninguém o perguntasse, já que a causa dizia respeito a um Desembargador Federal (rectius: Juiz Federal lotado em Tribunal Regional Federal),[21] afirmou que referido agente não estaria sujeito à Lei nº 8.429/1992.
Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, embora tenha flertado com o entendimento de que o foro por prerrogativa de função adotado na seara criminal[22] é extensivo às ações de improbidade, foi obrigado a rever sua tese[23], isso em razão do seu não acolhimento pelo Supremo Tribunal Federal, que manteve a posição exarada ao julgar as ADIs nº 2.797/DF e 2.860/DF, quando reconhecera a inconstitucionalidade do art. 84, § 2º, do CPP, que estendera o foro por prerrogativa de função às ações de improbidade administrativa.[24]
Epílogo
Ainda que a Lei nº 8.429/1992 esteja passando por um processo de contínuo amadurecimento, é perceptível a que a sua interpretação não pode ser dissociada do contexto em que projetará a sua força normativa. Nesse particular, não podemos ignorar a advertência de Alejandro Nieto ao afirmar que “a corrupção ama as alturas”[25] e “acompanha o poder tal qual a sombra acompanha o corpo”.[26]
Por ser inegável que certos padrões culturais sedimentados na sociedade brasileira tornam nossas estruturas estatais particularmente sensíveis às investidas da corrupção, não podemos fechar os olhos para a constatação de que os sistemas de responsabilização mais severos hão de ser direcionados aos altos escalões do poder, que detêm o poder decisório e direcionam a atuação das instâncias inferiores. Ignorar essa realidade significa tornar a nossa ordem jurídica indiferente à sociedade, razão de ser de sua própria existência, daí decorrendo um paradoxo impossível de ser decifrado. O pior de tudo é imaginar que a Constituição de 1988 ampara essa “aventura hermenêutica” quando ela própria dispôs sobre a coexistência dos atos de improbidade e dos crimes de responsabilidade.
[1] Para maior desenvolvimento do tema, vide, de nossa autoria, a primeira parte da obra Improbidade Administrativa. 8ª ed., 2ª tiragem. São Paulo: Editora Saraiva, 2015, p. 343 e ss.
[2] Direito administrativo brasileiro. 19ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1993, p. 69.
[3] Parte da argumentação aqui adotada subsidiou a palestra proferida pelo autor, em 10 de maio de 2012, no seminário “Improbidade Administrativa e Agentes Públicos”, promovido, na Cidade de Porto Alegre, pela Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Essa exposição foi incorporada à primeira parte da obra Improbidade Administrativa. 8ª ed., 2ª tiragem. São Paulo: Editora Saraiva, 2015, p. 629 e ss.
[4] Cf. BARBOSA, Rui, Commentarios à Constituição Federal Brasileira, vol. III, colligidos por Homero Pires. São Paulo: Saraiva, 1933, p. 433.
[5] Cf. BRADLEY, A. W. e EWING, K. G.. Constitutional and Administrative Law. 13ª ed. Harlow: Pearson Education Limited, 2003, p. 104
[6] Constituição de 1787, art. II, Seção 4.
[7] Essa constatação é reforçada pela redação do art. 42 da Lei nº 1.079/1950: “A denúncia só poderá ser recebida se o denunciado não tiver, por qualquer motivo, deixado definitivamente o cargo”. Deixando o cargo, suprimida estaria a responsabilidade política do agente. O art. 3º da Lei nº 1.079/1950 ressaltou, de forma expressa, que ainda seria possível o julgamento do agente, perante o órgão jurisdicional competente, em tendo praticado crime comum. Não bastasse isto, o art. 52, parágrafo único, da Constituição, dispõe que, no julgamento dos crimes de responsabilidade imputados ao Presidente e ao Vice-Presidente da República, aos Ministros de Estado, aos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, aos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aos membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, ao Procurador-Geral da República e ao Advogado-Geral da União, “funcionará como Presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis”. À luz desses preceitos, restam incontroversas a dicotomia e a independência entre as instâncias política e jurisdicional.
[8] CR/1988, art. 52, I e parágrafo único.
[9] CR/1988, art. 102, I, c.
[10] Decreto-Lei nº 201/1967, art. 1º. O mesmo diploma normativo, em seu art. 4º, fala nas “infrações-político-administrativas dos Prefeitos Municipais”, o que se assemelharia aos crimes de responsabilidade da Lei nº 1.079/1950. Nesse sentido: “Penal. Processual Penal. Prefeito: Crime de Responsabilidade. D.L. 201, de 1967, artigo 1º: crimes comuns. I. – Os crimes denominados de responsabilidade, tipificados no art. 1º do D.L. 201, de 1967, são crimes comuns, que deverão ser julgados pelo Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores (art. 1º), são de ação pública e punidos com pena de reclusão e de detenção (art. 1º, § 1º) e o processo é o comum, do C.P.P., com pequenas modificações (art. 2º). No art. 4º, o D.L. 201, de 1967, cuida das infrações político-administrativas dos prefeitos, sujeitos ao julgamento pelo Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Essas infrações é que podem, na tradição do direito brasileiro, ser denominadas crimes de responsabilidade. II. – A ação penal contra prefeito municipal, por crime tipificado no art. 1º do D.L. 201, de 1967, pode ser instaurada mesmo após a extinção do mandato. III. – Revisão da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV. – HC indeferido” (STF, Pleno, HC nº 60.671/PI, rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 19/05/1995).
[11] Acresça-se a dificuldade em compreender o real fundamento do Enunciado nº 722 da Súmula do STF (“são da competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento”), pois, se os crimes de responsabilidade não são verdadeiros crimes (v.g.: não são considerados para fins de reincidência), mas infrações de raiz política e administrativa, como justificar a competência privativa da União para legislar sobre a matéria? Incidiria na hipótese o disposto no art. 22, I, da Constituição da República?
[12] Infrações semelhantes já eram coibidas (1) no Império, com a lei “sobre a responsabilidade dos Ministros e Secretários de Estado e dos Conselheiros de Estado, de 15/10/1827, que regulamentou o art. 47 da Constituição de 1824, e (2) no início da República, com os Decretos 27 e 30, de 07 e 08/01/1892, que tratavam dos crimes de responsabilidade do Presidente da República, sendo estes os antecedentes da Lei nº 1.079, de 10/04/1950.
[13] CR/1988, arts 15, V, e 37, § 4º.
[14] CR/1988, arts. 29, §§ 2º e 3º; 50, caput e § 1º; 52, I; 85, caput e parágrafo único; 86, caput e § 1º, II; 96, III; 100, § 6º; 102, I, c; 105, I, a; 108, I, a; e 167, § 1º.
[15] CR/1988, arts. 37, § 4º, e 85, parágrafo único.
[16] Pleno, ADI nº 4.425/DF, rel. p/acórdão Min. Luiz Fux, j. em 14/03/2013, DJe de 19/12/2013.
[17] Pleno, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 13/06/2007, DJ de 20/06/2007.
[18] 1ª T., REsp. n. 1.029.842/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. em 15/4/2010, DJ de 28/4/2010; 2ª T. REsp nº 1.147.329/SC, rel. Min. Herman Benjamin, j. em 13/4/2010, DJ de 23/4/2010; e STJ, 2ª T., AgRg. no AREsp. nº 399.128/SC, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 07/11/2013, DJe de 18/11/2013.
[20] Nesse sentido: 1ª T., REsp. nº 1.174.603/RN, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. em 03/03/2011, DJ de 16/03/2011. OTRF-4ª Região chegou ao extremo de afirmar que os magistrados somente respondem por crimes de responsabilidade, “constituindo teratologia jurídica que venha um membro do Judiciário responder, pelo mesmo fato, a título de crime, a título de infração disciplinar, a título de improbidade” (3ª T., AI. nº 2008.04.00.030765-7, rel. Juiz Luiz Carlos de Castro Lugon, j. em 16/06/2009, DJe de 08/07/2009). Considerando a secular adoção, no direito brasileiro, do sistema de independência entre as instâncias, não nos resta conclusão outra senão a de que o próprio conceito de “teratologia” pode assumir contornos variáveis. Nesse particular, vem à lembrança o belo conto de Machado de Assis, intitulado “O Alienista”. Ali, o protagonista, após internar todos os habitantes da Cidade na “Casa de Orates”, percebeu que o único louco era ele próprio.
[21] STJ, 1ª T., REsp. nº 1.205.562/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 14/02/2012, DJe de 17/02/2012.
[22] Corte Especial, Reclamação nº 2.790/SC, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. em 02/12/2009, DJ de 04/03/2010.
[24] Nesse sentido: STF, Reclamação nº 13.998/RJ, decisão monocrática da Min. Carmén Lúcia, j. em 12/03/2014, DJe de 19/03/2014; 1ª T., AI nº 556.727 AgR/SP, rel. Min. Dias Toffoli, j. em 20/03/2012, DJ de 26/04/2012; 1ª T., AI nº 678.927/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 02/12/2010, DJ de 01/02/2011; 1ª T., AI nº 554.298 AgR/GO, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 19/10/2010, DJ de 16/11/2010; e 2ª T., AI nº 506.323 AgR/PR, rel. Min. Celso de Mello, j. em 02/06/2009, DJ de 01/07/2009.
[25] Corrupción en la España democrática. Barcelona: Ariel, 1997, p. 136.
[26] Corrupción..., p. 7.