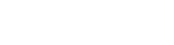O jus cogens, em sua expressão mais simples, pode ser visto como o conjunto de normas imperativas de direito internacional público. Reflete padrões deontológicos sedimentados no âmbito da comunidade internacional, cuja existência e eficácia independem da aquiescência expressa dos sujeitos de direito internacional. Deve ser observado nas relações internacionais e projeta-se, em alguns casos, na própria ordem jurídica interna. O objeto destas breve reflexões é o de identificar a sua essência e os efeitos de sua inobservância pelos padrões normativos editados por cada Estado de Direito.
Sumário: 1. Aspectos gerais; 2. Contornos estruturais do jus cogens; 3. Efeitos do jus cogens na proteção internacional dos direitos humanos; Epílogo; Referências Bibliográficas.
1. Aspectos gerais.
O jus cogens, em sua expressão mais simples, pode ser visto como o conjunto de normas imperativas de direito internacional público. Reflete padrões deontológicos sedimentados no âmbito da comunidade internacional, cuja existência e eficácia independem da aquiescência expressa dos sujeitos de direito internacional. Deve ser observado nas relações internacionais e projeta-se, em alguns casos, na própria ordem jurídica interna.
As características da imperatividade e da indisponibilidade tiveram influência direta na escolha do designativo direito cogente, sendo bem conhecida a dicotomia inerente ao direito romano, que distinguia o jus strictum (direito estrito) do jus dispositivum (direito dispositivo).
Não é exagero afirmar que a concepção de jus cogens desenvolveu-se pari passu com a de direito internacional público. As primeiras construções teóricas a respeito deste ramo do direito remontam à segunda metade do século XV, sendo capitaneadas pela escola espanhola. Tinham o propósito inicial de defini-lo e extremá-lo, quer do direito natural, quer do direito interno. Apesar da defendida necessidade de positivação, de modo a aumentar a segurança jurídica nas relações entre os Estados, muitos reconheciam a proximidade que o direito cogente mantinha, em alguns aspectos, com o direito natural. Afinal, diversas regras de coexistência eram observadas pelos Estados ainda que inexistisse um ajuste formal reconhecendo-as.
Foi justamente a proximidade com o direito natural, suscetível de ser meramente conhecido, não construído, além de ser ontologicamente imodificável, que permitiu o reconhecimento da existência do jus cogens.[1] Note-se que a própria expressão direito das gentes, inicialmente utilizada para designar o direito internacional público, era empregada, nas Institutas de Justiniano, para definir o conjunto de regras que a razão natural estabeleceu entre todos os homens e povos. Essas regras decorriam das necessidades da vida, como aquelas afetas aos contratos e, no entender dos romanos, à própria escravidão, praticada por todos os povos da antiguidade.[2] Não tinham, portanto, qualquer correlação com o direito internacional.[3]
Francisco de Vitória (1483-1546), expoente da escola espanhola, em lição proferida nos idos de 1528, utilizou a expressão direito das gentes em um sentido característico do direito internacional, defendendo, em razão de sua associação ao direito natural, ter força de lei em todo o globo, o qual, em certa maneira, formaria uma república. Portanto, “ninguna nación puede darse por no obligada ante el derecho de gentes, porque está dado por la autoridad de todo el orbe”.[4]
Em momento posterior, Domingo de Soto (1494-1560), embora encampando o caráter internacional do direito das gentes, extremou-o do direito natural e inseriu-o sob a epígrafe do direito positivo.[5] Com isso, reconheceu que parte do direito das gentes poderia ser dispensada caso houvesse uma causa, como a não redução à condição de escravos dos cristãos capturados na guerra; mas ressaltou que “algunas cosas de derecho de gentes son tan conducentes a las relaciones humanas, que de ningún modo es honesto dispensar sobre ellas; antes, tal vez la dispensa sería nula”.[6] Teríamos, assim, o direito das gentes positivo e arbitrário, decorrente dos acordos internacionais, e o direito das gentes natural e imutável.[7] Estas últimas normas são justamente aquelas que a doutrina, nos séculos seguintes, após incontáveis embates argumentativos a respeito das relações entre o direito natural e o direito das gentes, reconheceu pertencerem ao jus cogens.
O conceito há muito difundido no âmbito da comunidade internacional terminou por ser incorporado pelo art. 53 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados,[8] que considera nulo qualquer tratado que destoe do jus cogens.[9] Considerou como tal a norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional como um todo, insuscetível de derrogação e que somente pode ser modificada por norma de direito internacional geral da mesma natureza. A superveniência da norma de jus cogens, por força do art. 64 da Convenção, também torna nulo ou extingue o tratado anterior que dela destoe.[10]
É evidente que o conteúdo do jus cogens tem passado por inúmeras vicissitudes com o evolver da humanidade, assumindo singular relevância na proteção internacional dos direitos humanos.
2. Contornos estruturais do jus cogens.
As principais reflexões teóricas a respeito do jus cogens estão associadas à compreensão de sua origem e de sua essência. Não é exagero afirmar que esses fatores apresentam entre si uma influência recíproca, não podendo ser compreendidos de maneira isolada.
Em seu caráter embrionário, a origem do jus cogens era associada ao direito natural. Como afirmamos na obra Interpretação Constitucional. A Resolução das Conflitualidades Intrínsecas da Norma Constitucional,[11] isso ao tratarmos da virada axiológica do constitucionalismo, as teorias naturalistas, apesar das variações que apresentam, principiando pelo seu alicerce metafísico de sustentação, relacionado a “cosmovisões”[12] (teológica, racionalista, humanística, do estado de natureza etc.), convergem no reconhecimento da insuficiência do direito posto[13] e de que as normas jurídicas preexistem à atividade do intérprete.[14] São apenas conhecidas, não criadas. Independem de qualquer ato de vontade, já que ofertadas por um referencial superior, sendo, portanto, espontâneas. E o seu significado é tão somente apreendido, o que lhes assegura aprovação e aceitação inatas.[15] Para os naturalistas, algum fato empírico determina como as pessoas devem viver.[16] Sua verdade e justiça se manifestam no plano objetivo, o que lhes confere uma pretensão à universalidade (rectius: geral aceitação, denotando a sua justificação[17]), sendo necessariamente vinculantes.[18] Face à base axiológica que lhes dá sustentação, concepções naturalistas associam o direito à justiça:[19] enquanto a expressão direito justo seria pleonástica, pois somente pode existir direito que seja justo, a expressão direito injusto seria nitidamente contraditória, já que o injusto não pode ser direito.[20]
A utilização de referenciais metafísicos, passíveis de mera verificação, torna inevitável a expectativa de uma relação de identidade entre os distintos sistemas jurídicos.[21] Parte-se da premissa de que a realidade do mundo natural é a mesma em qualquer lugar e, consequentemente, que todos os povos estão sujeitos à mesma lei superior, raciocinando do mesmo modo. Ignora-se que nem todos os povos apresentariam o mesmo nível civilizatório ou os mesmos conceitos de justo e injusto. Identificar a existência de certos padrões morais que rotineiramente se repetem nos distintos grupamentos humanos não é o mesmo que apregoar, como pretendem os naturalistas, a sua estabilidade e permanência em todos. É factível que esses padrões oscilam de civilização para civilização, estendem-se ou comprimem-se.[22] Além disso, a obrigatoriedade de certos padrões de conduta não positivados não decorreria exatamente de um fator metafísico de sustentação, mas, sim, de práticas influenciadas pelo comportamento dos próprios membros da comunidade internacional.
Em razão dos inconvenientes das teorias naturalistas, foi inevitável o caminho de integração do jus cogens ao direito positivo, mais especificamente ao direito internacional público. Apesar disso, não deve ser confundido com as normas universais de direito internacional público (universellen Völkerrechtsnormen), isso porque a maioria delas tem natureza dispositiva (dispositiver Natur), como ocorre, por exemplo, com os privilégios e as imunidades diplomáticas.[23] Já o jus cogens pertence à ordem pública da comunidade internacional.[24]
Não é demais lembrar que a modificabilidade do jus cogens, reconhecida pelo art. 53 do Tratado de Viena, caminha em norte contrário à imutabilidade característica do direito natural,[25] embora não sejam poucos os que defendam a possibilidade de o próprio direito natural evoluir. O argumento decisivo, em verdade, é a necessidade, já referida, de o caráter imperativo das normas ser reconhecido pela comunidade internacional. Esse reconhecimento, por sua vez, exige que o jus cogens decorra de uma fonte do direito internacional.[26]
A partir daí, surge um segundo complicador, que diz respeito à essência propriamente dita do jus cogens. Em outras palavras: que normas devem ser consideradas imperativas independentemente da aquiescência de cada sujeito de direito internacional? Em torno dessa temática, como observou Eduardo Correia Baptista,[27] existem basicamente duas construções teóricas. A primeira dessas construções, denominada de subjetiva, exige a verificação da aceitabilidade da norma pela grande maioria dos Estados com interesse na temática e a posterior constatação de que reconheceram o seu caráter jus cogentis. Esse modus operandi, que encampa o critério do duplo reconhecimento, afasta a exigência de qualquer característica intrínseca da norma, bastando seja aferida a vontade dos Estados. A teoria objetiva, por sua vez, conquanto reconheça que o jus cogens decorra da prática dos Estados, entende que suas normas possuem características próprias, com especial ênfase para a espécie de interesse tutelado, o que confere maior certeza a respeito de sua existência e de sua essência.
A análise do art. 53 do Tratado de Viena permite concluir que ao jus cogens foram atribuídos contornos eminentemente subjetivos, já que deve existir o seu reconhecimento pelos Estados. Essa conclusão, aliás, não é afetada pelo fato de a norma jus cogentis somente poder ser modificada por outra da “mesma natureza”. A preocupação, aqui, não é com a essência da norma, mas tão somente com o seu processo de surgimento. Apesar disso, não se pode atrair para o jus cogens um voluntarismo que não parece se ajustar aos seus objetivos. O reconhecimento exigido não é necessariamente expresso e muito menos unânime, mas, sim, implícito e presumido. Decorre da constante preocupação da comunidade internacional com a preservação de certos interesses,[28] o que termina por atribuir um colorido objetivo ao jus cogens, que recebe os influxos do direito costumeiro.
No caso do direito convencional, também é possível que sua adoção por um grande número de Estados termine por torná-lo imperativo igualmente para aqueles que não o subscreveram. Um exemplo bem característico dessa última hipótese, tal qual referimos na obra Proteção Internacional dos Direitos Humanos - Breves Reflexões sobre os Sistemas Convencional e Não Convencional,[29] é encontrado nas Convenções de Genebra de 12 de agosto de 1949[30], que estabelecem a inviolabilidade de direitos humanos fundamentais no caso de conflito armado e a correlata obrigação jurídica dos Estados em respeitá-los.[31]
Apesar de o art. 53 da Convenção de Viena não indicar que normas integram o jus cogens, o que é plenamente justificável em razão da sua potencial mutabilidade, é factível a influência exercida pelos arts. 1º e 2º da Carta da Organização das Nações Unidas, que enuncia os objetivos e os princípios que direcionam essa organização internacional de cooperação de caráter universal. É importante ressaltar que a não enumeração das normas de jus cogens no referido preceito também foi influenciada pela resistência que alguns países ocidentais, como a França, que sequer ratificou a Convenção, opõem ao conceito.[32]
Têm sido potencialmente reconhecidos como integrantes do jus cogens o direito à autodeterminação de cada povo, a proibição de uso agressivo da força, o direito de legítima defesa, a proibição de genocídio, a proibição de tortura, os crimes contra a humanidade, a proibição de escravidão, a proibição de pirataria, a proibição de discriminação racial e a proibição de hostilidades direcionadas à população civil.[33] Esse rol, como se percebe, confere preeminência à proteção dos direitos humanos, o que certamente reflete uma mudança de paradigma em relação aos primórdios do direito internacional público. O Tribunal Internacional de Justiça, a partir da década de noventa do século passado, tem feito referência, em inúmeras ocasiões (v.g.: ao posicionar-se contra a tortura e o genocídio), aos princípios intransgressíveis do direito internacional costumeiro e, de maneira mais explícita, ao próprio jus cogens. O mesmo tem ocorrido em relação à Corte Interamericana de Direitos Humanos.
3. Efeitos práticos do jus cogens na proteção internacional dos direitos humanos.
A sedimentação dos direitos humanos, em especial após o segundo pós-guerra, importou no inexorável redimensionamento dos fins de qualquer estrutura de poder, interna ou externa, unitária ou colegiada. O ser humano, enquanto fim, não meio a serviço do poder, passou a ocupar uma posição de destaque no plano fático-normativo, tanto em relação ao direito interno como ao internacional. Essa constatação certamente explica o porquê de as principais normas de natureza jus cogentis dizerem respeito à proteção dos direitos humanos.
Ao imporem obrigações erga omnes, as normas jus cogentis inserem no plano da ilicitude a conduta dos Estados que venham a violá-las. Na medida em que a sedimentação dos direitos humanos parece ser uma diretriz indissociável do direito internacional público contemporâneo, é evidente que o grande número de tratados internacionais afetos a essa temática dá origem ao delineamento de um largo alicerce consuetudinário, o que, em rigor lógico, terminaria por atribuir natureza jus cogentis grande parte das normas afetas aos direitos humanos. Apesar da coerência dessa afirmação, o que se nota é que os mecanismos de controle existentes no plano internacional produzem efeitos diversos conforme estejamos perante violações isoladas ou perante violações massivas ao jus cogens.
Os mecanismos de controle existentes, como se sabe, estão situados nos planos convencional e não convencional.
No plano convencional, os Estados-partes firmam convenções que reconhecem a existência e a necessidade de proteção dos direitos humanos e, paralelamente, instituem mecanismos do controle externo para as ações do Estado. Esses mecanismos apresentam natureza e funcionalidade bem diversificada, podendo consistir na mera apresentação de relatórios regulares a respeito das políticas públicas adotadas em certas áreas temáticas ou, no extremo oposto, culminar no reconhecimento da competência de um órgão supranacional que vai avaliar a conduta do Estado e, eventualmente, impor-lhe as sanções previstas na respectiva Convenção. Cada passo dado na implementação dessa sistemática de proteção encontra-se calcado em padrões consensuais, podendo ser aplicada às violações pontuais aos direitos humanos, o que significa dizer que casos individuais serão objeto de ampla sindicação pelos órgãos competentes, ou restringir-se a análises mais amplas, de modo que somente violações massivas sejam objeto de algum tipo de análise.
Os mecanismos convencionais de proteção têm tido grande desenvolvimento no âmbito regional, com especial realce para o Tribunal Europeu de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Os atos de direito internacional que os instituíram ora preveem a possibilidade de acesso por parte de indivíduos, o que importa no reconhecimento de sua capacidade jurídica internacional, ou por organizações não governamentais, ora restringem esse acesso aos Estados-partes ou a um órgão integrado à organização internacional que alberga os mecanismos de controle. No continente europeu, desde o Protocolo nº 11, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos tem admitido o acesso do indivíduo, ou de organização de que faça parte, ao respectivo Tribunal. No continente americano, a Convenção Americana dos Direitos Humanos exige que as notícias de ilícitos sejam inicialmente encaminhadas à Comissão e, se for o caso, desta para a Corte.[34]
No plano não convencional, os Estados e os agentes que os representam, podem vir a ser responsabilizados por violações massivas aos direitos humanos. Essa responsabilização pode ocorrer independentemente do prévio e voluntário reconhecimento dessa possibilidade em algum ato de direito internacional. Nesse caso, as medidas isoladas, passíveis de serem adotadas por outros Estados, somente podem importar no uso da força em situações excepcionais (v.g.: na hipótese de legítima defesa), de modo que essa possibilidade permanece restrita às organizações internacionais, entes que personificam a sociedade internacional institucionalizada, com especial ênfase para o papel desempenhado pelas Nações Unidas.[35]
Os mecanismos não convencionais costumam ser reservados às violações massivas aos direitos humanos, não às afrontas pontuais aos direitos individuais. Nesse particular, caso a Organização das Nações Unidas considere tais violações verdadeiras ameaças à paz e à segurança internacionais, poderá determinar a aplicação das medidas coercitivas prevista no Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, o que, em situações extremas, pode redundar no uso da força ou, mesmo, resultar na constituição de Tribunais ad hoc, como fez em relação aos conflitos armados da antiga Iugoslávia e do Ruanda.[36]
Ainda que o conflito entre normas internas e normas internacionais não seja propriamente resolvido no plano da validade, é nítido que a inobservância do jus cogens, cuja densidade axiológica o coloca num patamar superior ao da ordem interna, retirará a eficácia das normas que o contrariem, sendo este o fundamento básico da possibilidade de responsabilização internacional.
Epílogo.
O paulatino reconhecimento da posição de primazia atribuída ao ser humano em suas relações com as estruturas estatais de poder torna inevitável o surgimento de uma base de valores de contornos cosmopolitas. Ainda que o pluralismo cultural impeça seja reconhecida a total hegemonia de certos valores em detrimento de outros, é inegável que a humanidade, na atual quadra de sua evolução histórica, não mais se ajusta às construções teórico-pragmáticas que viam no ser humano não um fim, mas meio a serviço do Estado.
O jus cogens nada mais é que uma realidade jurídica com fortes influxos axiológicos. Além das dúvidas que cercam a sua essência, o questionamento de como preservá-lo ainda está longe de receber respostas unívocas. De qualquer modo, a celebração de convenções internacionais que apregoam o caráter absoluto de certos direitos, como a vedação à tortura, e a instituição de tribunais internacionais com o objetivo de julgar agentes de Estados que sequer reconheceram a sua jurisdição são mais que sintomáticos em relação à sua existência e importância.
Referências Bibliográficas
ALEXANDER, Lary e SHERWIN, Emily. The rule of rules: morality, rules, and the dilemmas of Law. U.S.A.: Duke University Press, 2001.
BAPTISTA, Eduardo Correia. Ius cogens em Direito Internacional. Lisboa: Lex, 1997.
BENDITT, Theodore M.. Law as rule and principle: problems of legal philosophy. California: Standord University Press, 1978.
BODIN, Jean. On sovereignty. Six Books of the Commonwealth. Trad. de TOOLEY, M. G.. USA: Seven Treasures Publications, 2009, p. 215 (1ª ed. de 1576).
BONSEAN, Georges. Explication des Institutes de Justinien, Tome Premier. Paris: A. Durand et Pedone-Lauriel Éditeurs, 1878.
CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Soberania de los Estados y derechos humanos em derecho internacional contemporâneo. 2ª ed. Madrid: Tecnos, 2001.
CONKLIN, William E.. The Invisible Origins of Legal Positivism. A Re-Reading of a Tradition. Netherlands: Kluver Academic Publishers, 2001.
CHRISTODOULIDS, Emilios. Elliding the Particular: A Comment on Neil MacCormick’s Particulars and Universal’s, in BANKOWSKI, Zenon e MACLEAN, James (org.). The Universal and the Particular in Legal Reasoning. Hampshire: Ashgate Publishing Company, 2006, p. 97-114.
CUNHA, Paulo Ferreira da. Filosofia Jurídica Prática. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2009.
DONOVAN, James M.. Legal anthropology: an introduction. U.S.A.: Rowman & Littlefield, 2008.
GARCIA, Emerson. Interpretação Constitucional. A Resolução das Conflitualidades Intrínsecas da Norma Constitucional. São Paulo: Editora Atlas, 2015.
__________. Proteção Internacional dos Direitos Humanos. 3ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2015.
GROTIUS, Hugo. De Jure Praedae Commentarius, vol. I. Trad. de WILLIAMS, Gwladys L., in The Classics of International Law, nº 22. Oxford: Claredon Press, 1950.
GUASTINI, Ricardo. Das Fontes às Normas (Dalle Fonti alle Norme). Trad. de BINI, Edson. São Paulo: Quatier Latin, 2005.
HABERMAS, Jurgen. Entre Naturalismo e Religião. Estudos Filosóficos (Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze). Trad. de SIEBENEICHLER, Flávio Beno. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2007.
ROSS, Alf. Il concetto di validità e Il conflito tra positivismo giuridico e giusnaturalismo. Trad. de FEBBRAJO, A.. Itália: A. Pessina, 1961.
SIEYÈS, Abade. Qu’est-ce que Le Tiers-État. 3ª ed. A. Versailles: D. Pierres, 1789.
SOTO, Domingo de. Tratado de la Justicia y del Derecho, Tomo II, Trad. de RIPOLL, Jaime Torrubiano. Madrid: Reus, 1926.
VATTEL. Le Droit des gens ou Principes de la Loi Naturelle, Tome I, atualizada por PRADIER-FODÉRÉ, M. P.. Paris: Guillaumin et Cie, 1863 (1ª ed. de 1758).
VECCHIO, Giorgio del. Lições de Filosofia do Direito. Trad. de BRANDÃO, António José. 5ª ed. Coimbra: Armênio Amado, 1979.
VERDROSS, Alfred e SIMMA, Bruno. Universelles Völkerrecht. Theorie und Praxis. 3ª ed. Berlin: Duncker & Humblot, 1984.
VITORIA, Francisco de. De la potestade civil, in Obras de Francisco de Vitoria, Relecciones Teológicas. Madrid: Teófilo Urdanoz, 1960.
WET, Erika de. Jus cogens and obligations erga omnes, in SHELTON, Dinah (org.). The Oxford Handbook of International Human Rights Law. Oxford: Oxford University Press, 2015, p. 541-561.
[1] Cf. BAPTISTA, Eduardo Correia. Ius cogens em Direito Internacional. Lisboa: Lex, 1997, p. 25.
[2] Lê-se nas Institutas: “jus gentium quo omnes gentes utuntur” (I, ii, § 1) e “jus gentium omni humano generi commune est” (I, ii, § 2). Cf. BONSEAN, Georges. Explication des Institutes de Justinien, Tome Premier. Paris: A. Durand et Pedone-Lauriel Éditeurs, 1878, p. 14.
[3] Cf. BONSEAN. Explication..., p. 15.
[4] De la potestade civil, in Obras de Francisco de Vitoria, Relecciones Teológicas. Madrid: Teófilo Urdanoz, 1960, proposición 21, p. 191-192.
[5] Tratado de la Justicia y del Derecho, Tomo II, Trad. de RIPOLL, Jaime Torrubiano. Madrid: Reus, 1926, p. 204-208.
[6] Tratado..., p. 209.
[7] Além dessa classificação, proposta por Hugo Grotius em 1604 (De Jure Praedae Commentarius, vol. I. Trad. de WILLIAMS, Gwladys L., in The Classics of International Law, nº 22. Oxford: Claredon Press, 1950, p. 249-250), existiram outras. Vattel, por exemplo, fazia menção ao direito das gentes necessário, que consistia na obrigatória aplicação do direito natural às nações (Le Droit des gens ou Principes de la Loi Naturelle, Tome I, atualizada por PRADIER-FODÉRÉ, M. P.. Paris: Guillaumin et Cie, 1863, p. 85-86 (1ª ed. de 1758).
[8] A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados foi adotada em 23 de maio de 1969. No Brasil, foi aprovada, pelo Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo nº 496, de 17 de julho de 2009, sendo depositado o instrumento de ratificação, junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas, em 25 de setembro de 2009, e promulgada, na ordem interna, pelo Decreto nº 7.030, de 14 de dezembro de 2009. A Convenção entrou em vigor, no plano internacional, em 27 de janeiro de 1980.
[9] Jean Bodin já defendia, nas relações entre os príncipes, que os acordos seriam invioláveis em todos os casos em que nenhuma injustiça fosse praticada. Com os olhos voltados a essa premissa, seria possível descumprir os acordos que proibissem condutas permitidas pelo direito natural ou que permitissem aquelas que fossem vedadas [On sovereignty. Six Books of the Commonwealth. Trad. de TOOLEY, M. G.. USA: Seven Treasures Publications, 2009, p. 215 (1ª ed. de 1576)].
[10] Verdross e Simma observam que a Convenção de Viena, embora não tenha reconhecido a existência de manifestações particulares desse fenômeno universal (v.g.: com um jus cogens regional), também não as vedou. Admitem, portanto, que venham a existir, mencionando o exemplo do continente europeu (Universelles Völkerrecht. Theorie und Praxis. 3ª ed. Berlin: Duncker & Humblot, 1984, p. 334).
[11] São Paulo: Editora Atlas, 2015, p. 189-193.
[12] Cf. HABERMAS, Jurgen. Entre Naturalismo e Religião. Estudos Filosóficos (Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze). Trad. de SIEBENEICHLER, Flávio Beno. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2007, p. 288.
[13] Cf. ALEXANDER, Lary e SHERWIN, Emily. The rule of rules: morality, rules, and the dilemmas of Law. U.S.A.: Duke University Press, 2001, p. 184.
[14] Essa concepção é nítida no pensamento de Sieyès, ao fundar o Poder Constituinte no direito natural e os poderes constituídos no direito positivo (Qu’est-ce que Le Tiers-État. 3ª ed. A. Versailles: D. Pierres, 1789, p. 111).
[15] Cf. BENDITT, Theodore M.. Law as rule and principle: problems of legal philosophy. California: Standord University Press, 1978, p. 90 e ss..
[16] Cf. DONOVAN, James M.. Legal anthropology: an introduction. U.S.A.: Rowman & Littlefield, 2008, p. 29.
[17] Cf. CHRISTODOULIDS, Emilios. Elliding the Particular: A Comment on Neil MacCormick’s Particulars and Universal’s, in BANKOWSKI, Zenon e MACLEAN, James (org.). The Universal and the Particular in Legal Reasoning. Hampshire: Ashgate Publishing Company, 2006, p. 97 (98).
[18] Cf. ROSS, Alf. Il concetto di validità e Il conflito tra positivismo giuridico e giusnaturalismo. Trad. de FEBBRAJO, A.. Itália: A. Pessina, 1961, p. 142.
[19] Cf. FERREIRA DA CUNHA, Paulo. Filosofia Jurídica Prática. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2009, p. 61.
[20] Cf. GUASTINI, Ricardo. Das Fontes às Normas (Dalle Fonti alle Norme). Trad. de BINI, Edson. São Paulo: Quatier Latin, 2005, p. 116. Na síntese de Del Vecchio, direito natural “é o critério absoluto do justo” (Lições de Filosofia do Direito. Trad. de BRANDÃO, António José. 5ª ed. Coimbra: Armênio Amado, 1979, p. 334).
[21] Cf. DONOVAN, James M.. Legal anthropology: an introduction. U.S.A.: Rowman & Littlefield, 2008, p. 30.
[22] Cf. CONKLIN, William E.. The Invisible Origins of Legal Positivism. A Re-Reading of a Tradition. Netherlands: Kluver Academic Publishers, 2001, p. 34.
[23] Cf. VERDROSS e SIMMA. Universelles Völkerrecht..., p. 332.
[24] Cf. VERDROSS e SIMMA. Universelles Völkerrecht..., p. 328.
[25] Vatel, por exemplo, ressaltava a imutabilidade do direito das gentes necessário, isso por refletir a aplicação do direito natural, tido como imutável, às relações entre Estados (Le Droit des Gens..., p. 85-86).
[26] Nesse sentido: BAPTISTA. Jus Cogens..., p. 268.
[27] Jus cogens..., p. 269.
[28] Verdross e Simma lembram o caso Barcelona Traction (ICJ Reports, 1970, p. 32), em que o Tribunal Internacional de Justiça distinguiu as obrigações de um Estado em relação à comunidade internacional como um todo e aquelas que somente alcançam outro Estado. A primeira diz respeito a todos os Estados, de modo que todos, em vista da importância dos direitos envolvidos, têm um interesse legal na sua proteção. Portanto, são obrigações erga omnes (Universelles Völkerrecht..., p. 331).
[29] 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 41-42.
[30] São quatro as Convenções de Genebra voltadas à salvaguarda dos direitos humanos no caso de conflito armado, todas celebradas em 12 de agosto de 1949, entrando em vigor em 21 de outubro de 1950. São elas: 1ª) a Convenção para remediar os riscos a que estão sujeitos os feridos e os doentes das forças armadas em campanha; 2a) a Convenção para remediar os riscos a que estão sujeitos os feridos e os doentes das forças armadas no mar; 3a) a Convenção relativa ao tratamento dos prisioneiros de guerra; e 4a) a Convenção relativa à proteção das pessoas civis em tempo de guerra. Existem dois protocolos adicionais às Convenções de Genebra: Protocolo I – Protocolo Adicional às Convenções de Genebra de 12 de agosto de 1949, Relativo à Proteção das Vítimas dos Conflitos Armados Internacionais; e Protocolo II - Protocolo Adicional às Convenções de Genebra, Relativo à Proteção das Vítimas dos Conflitos Armados sem Caráter Internacional, ambos aprovados em 8 de Junho de 1977, entrando em vigor internacional em 7 de dezembro de 1978.
[31] As Convenções veiculam um extenso rol de direitos que devem ser necessariamente observados pelos Estados. Entre os valores fundamentais, deve-se mencionar que o art. 12 das duas primeiras Convenções, além de garantir o direito à vida e proibir a tortura, dispõe que os doentes e feridos devem ser tratados com humanidade, “sem distinção alguma de índole desfavorável baseada em sexo, raça, nacionalidade, religião, opiniões políticas ou em qualquer outro critério análogo”. Essas obrigações são repetidas no art. 13 da quarta Convenção, destinada à proteção dos civis, enquanto o art. 13 da terceira Convenção assegura um tratamento humano aos prisioneiros de guerra, resguarda a sua integridade psíquica e veda a sua submissão a mutilações ou a experiências médicas e científicas.
[32] Cf. WET, Erika de. Jus cogens and obligations erga omnes, in SHELTON, Dinah (org.). The Oxford Handbook of International Human Rights Law. Oxford: Oxford University Press, 2015, p. 541 (542).
[33] Cf. United Nations International Law Commission (ILC), Official Records of the General Assembly, 5ª e 6ª sessões, 2003, UN Doc A/56/10, p. 283-284.
[34] Cf. GARCIA. Proteção Internacional..., p. 85-95.
[35] Cf. CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Soberania de los Estados y derechos humanos em derecho internacional contemporâneo. 2ª ed. Madrid: Tecnos, 2001, p. 165.
[36] Cf. GARCIA. Proteção Internacional..., p. 109 e ss..