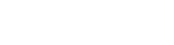Resumo: o Ministério Público, por imperativo constitucional, está legitimado a promover o inquérito civil e a ação civil pública na defesa de interesses difusos e coletivos (art. 129, III), prevenindo lesões, recompondo-os ou punindo os responsáveis. O objetivo de nossas breves reflexões é simplesmente o de verificar se a tentativa de solução consensual do conflito é um antecedente lógico e necessário, verdadeira etapa prévia, à busca pela solução litigiosa, via ação civil pública, ou se estamos perante mera faculdade a cargo do membro do Ministério Público, coberta pelo manto inexpugnável da independência funcional.
O Ministério Público, por imperativo constitucional, está legitimado a promover o inquérito civil e a ação civil pública na defesa de interesses difusos e coletivos (art. 129, III), prevenindo lesões, recompondo-os ou punindo os responsáveis. Em sua atuação, há de observar os detalhamentos estabelecidos pela ordem jurídica, que veicula normas de organização, procedimento e conteúdo.
Tanto o inquérito civil como a ação civil pública apresentam contornos instrumentais: o primeiro, de natureza apuratória e instauração facultativa, pode servir de alicerce a uma solução consensual ou litigiosa para o conflito de interesses, que invariavelmente contrapõe a coletividade a um ou mais sujeitos; a segunda é direcionada à formação da litigiosidade, ainda que, eventualmente, a consensualidade possa ser alcançada no curso da relação processual.
O objetivo de nossas breves reflexões é simplesmente o de verificar se a tentativa de solução consensual do conflito é um antecedente lógico e necessário, verdadeira etapa prévia, à busca pela solução litigiosa, via ação civil pública, ou se estamos perante mera faculdade a cargo do membro do Ministério Público, coberta pelo manto inexpugnável da independência funcional.
Para que a busca pela solução consensual configure uma obrigação do Ministério Público, é imperativa a existência de uma norma que assim disponha, que tanto pode ser expressa como implícita, neste último caso assumindo contornos principiológicos. Pela nossa tradição, embora não haja hierarquia entre espécies normativas expressas e implícitas, não se pode negar que o seu nível de imperatividade, aos olhos do operador jurídico médio, tende a variar conforme o extremo em que se encontre.
Deixaremos de lado, neste momento, os argumentos de ordem pragmática que afiançam as vantagens da solução consensual, a exemplo da contribuição para a pacificação social, do menor custo econômico e da maior celeridade na resolução do conflito, todos robustecidos pelo sabido e ressabido emperramento das estruturas judiciárias. O que nos interessa é a existência, ou não, de norma que a imponha. A imposição ora perquirida é aquela afeta à proteção do interesse difuso ou coletivo, não à punição dos responsáveis pela sua violação, matéria afeta ao direito sancionador.
A Constituição de 1988, logo no preâmbulo, afirma o seu comprometimento, “na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias”. Parece correto reconhecer que essa “solução pacífica”, ao menos no plano internacional, também preconizada pelo art. 4º, VIII, é a antítese suprema da solução bélica, o que é corroborado pela obrigação de “defesa da paz”, prevista no inciso VI desse preceito. Esse sentido, no entanto, parece inadequado quando a análise é transposta para a ordem interna. Assim ocorre porque o belicismo, adotado pelo Estado contra os seus próprios nacionais, não espelha, em ambientes democráticos, uma política a ser alvitrada em tempos de normalidade institucional. De modo simples e objetivo: seria uma anomalia. A “solução pacífica”, na ordem interna, está comprometida com a “pacificação social”, com a estabilização das relações interpessoais e a preeminência da harmônica convivência coletiva. Os instrumentos que caminhem nesse norte hão de preferir aqueles que caminhem em norte contrário. Ainda que aflorem dúvidas a respeito do caráter normativo do preâmbulo, o que poderia afastar essa constatação do plano deontológico, não se pode negar que estamos perante um referencial de estatura constitucional, situado, na pior das hipóteses, no plano axiológico. E valores, como se sabe, máxime quando constitucionais, concorrem para o delineamento do sentido das normas de um sistema.
No plano infraconstitucional, a tutela coletiva, em suas origens, era essencialmente litigiosa. Era o que dispunha a Lei nº 6.938/1981 (art. 14, 1º), em relação à reparação dos danos causados ao meio ambiente; a Lei nº 7.853/1989 (art. 3º), afeta à proteção das pessoas com deficiência; e a Lei nº 7.913/1989 (art. 1º), que dispôs sobre as medidas judiciais necessárias para evitar prejuízos ou obter ressarcimento de danos causados aos titulares de valores mobiliários e aos investidores do mercado. Mesmo a Lei nº 7.347/1985, que estabeleceu a disciplina geral da ação civil pública, consubstanciando o grande marco do direito brasileiro na tutela dos interesses difusos e coletivos, não contemplou, em sua redação original, qualquer solução consensual para os conflitos a que se referia, concepção nitidamente influenciada pelo histórico entendimento de que os interesses envolvidos eram indisponíveis.
A litigiosidade que caracterizava o nosso sistema somente começou a ser alterada com o advento da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que introduziu no direito brasileiro, por força do seu art. 211, o termo de ajustamento de conduta. Pouco depois, o art. 113 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) inseriu um § 6º no art. 5º da Lei nº 7.347/1985, o que permitiu a sua utilização em relação a outros interesses difusos e coletivos. Trata-se de negócio jurídico celebrado, de um lado, por uma estrutura estatal de poder, cognominada de órgão público pelo § 6º do art. 5º da Lei nº 7.347/1985, como são os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), o Ministério Público, a Defensoria Pública e os órgãos públicos propriamente ditos, desprovidos de personalidade jurídica e legitimados à propositura de ações coletivas (v.g.: o Procon na defesa do consumidor), e, de outro, o violador, atual ou iminente, de interesses transindividuais. A referência a órgão público denota que organizações da sociedade civil, qualquer que seja a sua natureza jurídica, não podem instar o violador, efetivo ou potencial do interesse, a celebrá-lo.
Vale ressaltar que, em suas origens, jamais se cogitou da necessidade de o membro do Ministério Público envidar esforços para celebrar o termo de ajustamento de conduta, ou, de modo mais singelo, tão somente propor a sua celebração. Tratava-se apenas de mais um instrumento, que coexistia, lado a lado, com a ação civil pública. O mesmo pode ser dito em relação às recomendações, que também podem ser enquadradas na perspectiva mais ampla das soluções consensuais. Afinal, buscam evitar a consumação do ilícito ou minorar as consequências daquele já consumado. A possibilidade de o Ministério Público expedir recomendações, visando à adoção de providências em questões afetas à esfera de atribuições de outros órgãos estatais, encontra-se prevista no art. 26, VII, da Lei n. 8.625/1993 (“sugerir ao Poder competente a edição de normas e a alteração da legislação em vigor, bem como a adoção de medidas propostas, destinadas à prevenção e controle da criminalidade”) e no art. 6º, XX, da Lei Complementar n. 75/1993 (“expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis”), preceito este aplicável no âmbito estadual por força do art. 80 da Lei n. 8.625/1993.
Embora a tentativa de conciliação das partes há muito seja vista como uma etapa obrigatória do procedimento judicial (vide CPC/1973, arts. 277, 331 e 447 a 449), essa obrigatoriedade não se espraiava para o plano extrajudicial, com especial ênfase para a atuação do Ministério Público. Ocorre que novos ares arejaram nossa ordem jurídica com o Código de Processo Civil de 2015: o § 2º do seu art. 3º dispôs que “o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”, acrescendo o § 3º do mesmo preceito que “a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”.
A análise dos §§ 2º e 3º do referido art. 3º indica que a solução consensual deve ser, respectivamente, promovida e estimulada. A promoção fica a cargo do Estado, cuja atuação é materializada por diferentes estruturas orgânicas, dotadas, ou não, de personalidade jurídica, entre as quais está o Ministério Público. O estímulo, por sua vez, que fica a cargo dessas mesmas estruturas e dos advogados, denota a tentativa de persuadir atores não estatais a alcançarem essa solução, tanto no plano judicial como no extrajudicial.
Considerando a nova sistemática processual, constata-se que o Ministério Público deve proteger os interesses difusos e coletivos com a promoção de um instrumento apuratório (rectius: o inquérito civil), de uma solução consensual (rectius: com a celebração do termo de ajustamento de conduta ou a expedição de recomendação) ou de uma solução litigiosa (rectius: com o ajuizamento da ação civil pública). Ressalte-se que a anteposição da solução consensual à litigiosa decorre da própria racionalidade, pois não se deve litigar quando o consenso existe; e, para que o consenso possa existir, deve ser buscado em momento antecedente ao litígio. Essa constatação não é comprometida mesmo quando o consenso é obtido após a deflagração do litígio. Afinal, nesse caso, o consenso, embora buscado em momento anterior, somente foi alcançado posteriormente, no curso do litígio.
Estar obrigado a promover “a solução consensual dos conflitos” não é o mesmo que afirmar que essa solução deve ser necessariamente alcançada. Como não existe consenso unilateral, é evidente que o consenso buscado não resultará, sempre e sempre, em consenso alcançado.
Apesar de a promoção de uma solução consensual ser dever do Estado e, ipso iure, do Ministério Público, a sua observância, no plano extrajudicial, ainda não parece ser vista como um pressuposto processual, no plano judicial, indispensável à realização do juízo de admissibilidade que antecede a resolução do mérito da causa. Essa constatação não compromete o entendimento de que se trata de um desdobramento natural da importância que o Estado tem atribuído à consensualidade, já presente em diversos domínios, incluindo o direito sancionador, penal ou extrapenal. Em dado momento de nossa evolução, será inevitável exigir-se a demonstração de que essa solução foi buscada anteriormente ao próprio surgimento da relação processual.
Considerando o maior poder persuasivo que comandos expressos parecem trazer consigo, nada obsta e tudo aconselha, que atos normativos infralegais, editados no âmbito das distintas unidades do Ministério Público e do Conselho Nacional do Ministério Público, disponham sobre a necessidade de a solução consensual ser buscada e devidamente certificada em momento anterior ao ajuizamento da ação civil pública. Nesse caso, a busca refletirá o cumprimento do que fora determinado na lei processual, enquanto a certificação nos autos do inquérito civil consubstanciará mera regra procedimental. Ainda que a processualística contemporânea não visualize causa de nulidade na ausência dessas providências, elas devem ser perseguidas pelo Ministério Público, cuja função precípua deve ser a de resolver conflitos, não transferi-los, via litigiosidade, ao Poder Judiciário.
Por fim, deve ser ressaltado que a busca pela solução consensual dos conflitos não configura, nem ao longe, afronta à independência funcional. Trata-se de mero fim, que coexiste com a litigiosidade e ao qual foi atribuída preeminência, podendo ser alcançado da forma que o membro do Ministério Público, iluminado pelo referencial de juridicidade, entenda mais adequado ao caso. É aqui que se manifesta a independência funcional, não lá.