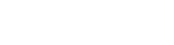Resumo: a Constituição Imperial de 1824 pode ser vista como o marco inaugural do constitucionalismo brasileiro. Apesar das profundas modificações ocorridas, no decorrer da nossa história, em relação à forma de Estado, à forma de governo e ao sistema de governo, a identificação dos seus contornos gerais, à luz das vicissitudes do ambiente sociopolítico, continua sendo útil para a compreensão da nossa realidade. O presente artigo propõe-se a contribuir para a realização desse objetivo.
Palavras-chaves: Constituição Imperial; independência; poder moderador; irresponsabilidade; parlamentarismo.
Abstract: the Imperial Constitution of 1824 can be seen as the inaugural milestone of Brazilian constitutionalism. Despite the profound changes that have occurred throughout our history in relation to the form of the State, the form of government and the system of government, the identification of its general contours, in light of the vicissitudes of the sociopolitical environment, continues to be useful for understanding our reality. This article aims to contribute to achieving this objective.
Keywords: Imperial Constitution; independence; moderating power; irresponsibility; parliamentarism.
Sumário: 1. Aspectos introdutórios; 2. Antecedentes; 3. Contornos gerais; 4. As vicissitudes do Império; 5. Epílogo; Referências.
1. Aspectos introdutórios
Há duzentos anos era proclamada a primeira Constituição brasileira. Trata-se da Constituição Política do Império do Brazil, de 25.3.1824. Durante os longos anos que separam o surgimento desse texto da nossa realidade atual, tivemos inúmeros acontecimentos intermédios que contribuíram para delinear o nosso constitucionalismo.
Diversas Constituições foram editadas, tendo uma delas recebido a curiosa alcunha de Emenda Constitucional, a de nº 1, de 1969; a forma de Estado, outrora unitária, transitou para federativa, mas com exagerado fortalecimento do centro em detrimento da periferia; a forma de governo, monárquica, respirou ares republicanos, embora o flerte com regimes de exceção seja um fantasma que ainda hoje teima em nos assombrar; o sistema de governo, que chegou a ser parlamentarista por um período, tonou-se presidencialista, e a infalibilidade própria do monarca não alcança nenhum agente público, embora ainda circundemos o Presidente da República de garantias no mínimo inusitadas em ambientes democráticos, como a impossibilidade de ser responsabilizado, na vigência do mandato, por atos estranhos ao exercício de suas funções (v.g.: um feminicídio), isto sem contar um rol de competências que confere ao Poder Executivo exagerada primazia, como o poder de, sozinho, apresentar propostas de emenda constitucional.
É evidente que a compreensão do constitucionalismo brasileiro não pode ocorrer per saltum, como se tivéssemos fechado os olhos em 1824, abrindo-os apenas em 2024. Em verdade, as mudanças mais relevantes ocorreram com a Constituição de 1891, que adotou a forma de Estado, a forma de governo e o sistema de governo que hoje conhecemos, todos adornados pelo princípio democrático, ao menos formalmente, já que manipulações e rupturas ocorreram com frequência certamente maior que a desejada. O reconhecimento dos direitos fundamentais, embora se mostre presente desde a Constituição Imperial, certamente foi robustecido pelo advento da República e pelo paulatino fortalecimento da democracia.
Apesar disso, a compreensão dos aspectos gerais da Constituição de 1824 também apresenta relevância. Por ser a nossa primeira Constituição, tem sido justamente vista como o ponto de partida do nosso constitucionalismo, embora os fatos ocorridos nos três lustros anteriores, deflagrados pela chegada da família real portuguesa ao nosso território, em 1808, também apresentem inegável relevância. Essa compreensão, por certo, exige um conhecimento mínimo do ambiente sociopolítico, a começar pelo fato de estarmos transitando de uma situação colonial, vinculados a um Estado absolutista, para um Estado independente. A Constituição não foi propriamente uma conquista, mas uma concessão. Quem concede, por óbvias razões, concede o que melhor lhe aprouver. O monarca que nos aquinhoou com a Constituição de 1824 foi o mesmo que outorgou a Constituição portuguesa de 1822.
As linhas que se seguem buscam revisitar aspectos normativos e doutrinários afetos ao nosso marco fundacional, enquanto Estado de Direito, no plano normativo, já que a independência, no plano factual e declaratório, remonta a 7.9.1822. O fio condutor da abordagem é o texto, afeto à Constituição de 1824, que faz parte do primeiro volume dos nossos Comentários à Constituição Brasileira, lançados pela Editora Fórum em 5.10.2023.
2. Antecedentes
Pouco antes da proclamação da independência e da aquisição do status de Estado de Direito, foi convocada, em 3.6.1822,[1] por ato de José Bonifácio de Andrade e Silva, então Príncipe-Regente, a primeira Assembleia Constituinte brasileira,[2] que somente foi instalada em 3.5.1823, sob a presidência do Bispo do Rio de Janeiro, D. José Caetano da Silva Coutinho. O número de deputados foi fixado em 100, distribuídos do seguinte modo: Alagoas, 5; Baía, 13; Capitanía (Espírito Santo), 1; Ceará, 8; Goiás, 2; Maranhão, 4; Mato Grosso, 1; Minas Gerais, 20; Pará, 8; Pernambuco, 13; Piauí, 1; Província Cisplatina, 2; Rio de Janeiro, 8; Rio Grande do Norte, 1; Rio Grande do Sul, 3; Santa Catarina, 1; e São Paulo, 9.[3] Logo após a instalação da Assembleia, e já consumada a proclamação da independência, foi declarada a legislação anterior que permaneceria em vigor.
No âmbito da Assembleia, foi nomeada a “Comissão dos Sete”, que apresentou o seu projeto em 1º de setembro, período em que as divergências com a realeza já se mostravam evidentes, isto em razão da flagrante polarização entre os interesses de brasileiros e portugueses, recaindo sob os últimos a simpatia do imperador.[4] Esse projeto teve forte influência da construção teórica de Montesquieu a respeito da divisão das funções estatais, tão bem expostas no célebre L’esprit des lois. Os seus traços estruturais foram assim sintetizados por Roberto Joacir Grassi:[5] (1) a divisão orgânica e funcional do poder em Legislativo, Executivo e Judiciário, não sendo feita qualquer menção ao Poder Moderador; (2) o imperador poderia convocar, adiar ou prorrogar sessões legislativas, mas não dissolver a Câmara dos Deputados, afastando, desse modo, a possibilidade de responsabilização política dos legisladores, um dos elementos estruturais do parlamentarismo clássico, no qual se inspiravam; (3) caso o herdeiro da coroa ou o imperador do Brasil suceda em coroa estrangeira e a aceite renuncia ao Império brasileiro (art. 187), o que cerceava “o velho plano, atribuído a D. João VI, de, no desdobrar da sucessão dinástica, reunir, novamente, as Coroas do Brasil e de Portugal”, o que, “à oportunidade, deve ter parecido insuportável” a D. Pedro I; e (4) caso algum ministro fosse condenado, o imperador somente poderia perdoar a pena de morte (art. 142, §6º), o que apontava para o objetivo de assegurar a responsabilidade pessoal do Ministério perante os poderes Judiciário e Legislativo, sendo nítida a inspiração no instituto britânico do impeachment.
Após vários incidentes, com destaque para a insatisfação dos oficiais da guarnição da Corte, em sua maioria portugueses, D. Pedro I, que em 12.10.1822 fora aclamado “Imperador Constitucional do Brasil e seu Perpétuo Defensor”, resolveu dissolver a Assembleia Constituinte em 12.11.1823,[6] criando, no dia seguinte, um Conselho de Estado, composto por dez membros, cuja missão precípua era a elaboração de um novo projeto de Constituição.
O novo projeto foi apresentado em 11 de dezembro, sendo decidido que, anteriormente à sua discussão e votação no âmbito da nova Assembleia Constituinte,[7] seria ele apreciado pelas câmaras municipais, que formulariam as críticas necessárias ao seu aperfeiçoamento, o que, de fato, não chegou a ocorrer. Em 4.1.1824, o presidente do Conselho do Estado subscreve o Decreto nº 8, o qual, de modo incisivo, decretava a sentença de morte da Assembleia Constituinte que sequer havia nascido; eis as suas palavras:
"tendo exuberantemente reconhecido, pelo extraordinário número de assinaturas, a vontade geral do Povo, para se jurar, e adotar por Constituição do Império o projeto organizado pelo Conselho de Estado, desejando que se lhe assinasse dia para, em solene deputação, fazer chegar ao conhecimento de S. M. esta mesma expressão da vontade geral...".
Ante a aprovação do projeto “com o mais patriótico entusiasmo”,[8] o imperador, em 25.3.1824, termina por outorgar a primeira Constituição brasileira. Considerando as dimensões continentais do território brasileiro e a precariedade dos meios de comunicação à época existentes, é difícil acreditar que, no curto lapso que mediou a apresentação do projeto de Constituição pelo Conselho de Estado e a manifestação do seu Presidente, pouco mais de vinte dias, tenha sido possível contar com a séria adesão de alguém, que dirá a “vontade geral do Povo”. O ato do imperador, assim, aparentemente legitimado por esse engodo, bem se afeiçoava às monarquias absolutas. O nosso constitucionalismo, como se percebe, com abstração da essência do texto outorgado, não começou bem.
3. Contornos gerais
A Constituição de 1824 teve forte influência da Constituição francesa de 1814 e da Constituição portuguesa de 1822, nesse último caso por razões óbvias, já que esta fora outorgada por D. Pedro IV, que nada mais era que o nosso D. Pedro I.
Caso utilizemos uma linguagem bem ao gosto da contemporaneidade, devemos reconhecer que o preâmbulo do texto de 1824 é um exemplo de Constituição compromissória. Afinal, buscou situar o seu fundamento de legitimidade na “unânime aclamação dos povos”, no que se ampara no princípio democrático, e na vontade do “Imperador Constitucional”, lastreando-se no princípio monárquico. Além disso, foi expressamente invocada a “graça de Deos”.
O Estado brasileiro tinha contornos unitários, caracterizados pela ausência de autonomia e consequente subordinação das províncias ao poder central. Cada província tinha um presidente, responsável por sua administração, sendo livremente nomeado e demitido pelo imperador.[9] A participação popular, no âmbito das províncias, permanecia adstrita à escolha dos membros do Conselho Geral das Províncias e das Câmaras das Cidades e Vilas,[10] que, em certa medida, correspondiam aos atuais municípios.[11] As deliberações desses órgãos, regra geral, não tinham cunho terminativo: destinavam-se, precipuamente, à provocação da Assembleia-Geral,[12] órgão de cúpula do Poder Legislativo, integrado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, que apreciariam as medidas propostas.[13] O Poder Legislativo, desse modo, era exercido pela Câmara dos Deputados, de origem “eletiva e temporária”,[14] e pelo Senado, cujos membros, nomeados pelo imperador a partir de lista tríplice formada eletivamente no âmbito das províncias, eram vitalícios.[15]
Especificamente em relação às eleições, o art. 90 da Constituição de 1824 dispunha:
"as nomeações dos Deputados, e Senadores para a Assembléa Geral, e dos Membros dos Conselhos Geraes das Provincias, serão feitas por Eleições indirectas, elegendo a massa dos Cidadãos activos em Assembléas Parochiaes os Eleitores de Provincia, e estes os Representantes da Nação, e Provincia."
Adotava-se, no entanto, o voto censitário, sendo excluídos de votar nas Assembléas Parochiaes, “os que não tiverem de renda liquida annual cem mil réis por bens de raiz, industria, commercio, ou Empregos”.[16] Aqueles que não pudessem votar nas Assembléas Primarias de Parochia não podiam ser membros nem votar na escolha de alguma autoridade eletiva nacional ou local. Podiam ser eleitores a votar nas eleições de deputados, senadores e membros dos conselhos de província todos os que podiam votar na Assembléa Parochial, ressalvadas as exceções dos incisos do art. 94, entre as quais se encontravam aqueles que não tivessem renda líquida anual de duzentos mil réis. Para ser escolhido deputado, também eram estabelecidos critérios censitários, exigindo-se quatrocentos mil réis de renda líquida.[17] Ressalte-se que as eleições para o Senado resultavam na formação de uma lista tríplice, sendo o senador escolhido pelo imperador.[18]
A divisão de poderes e a sua correlata limitação foram sensivelmente arrefecidas com a possibilidade de o imperador dissolver a Câmara dos Deputados, sendo essa uma das formas de exercício do “poder moderador” que lhe fora outorgado.[19]
O poder moderador, idealizado poucos anos antes, por Benjamin Constant,[20] como um pouvoir neutre, foi previsto no art. 98 da Constituição de 1824, preceito que tinha a seguinte redação:
"o poder moderador é a chave de toda a organização política, e é delegado privativamente ao Imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que, incessantemente, vele sobre a manutenção da independência, equilibrio e harmonia dos demais poderes políticos."
De forma simples e objetiva: o imperador estava acima dos demais órgãos constitucionais, podendo praticar os atos descritos no art. 101:
1º) Nomeando os senadores, na forma do art. 43. 2º) Convocando a assembléia geral extraordinária nos intervalos das sessões quando assim o pede o bem do Império. 3º) Sancionando os decretos e resoluções da assembléia geral para que tenham força de lei (art. 62). 4º) Aprovando e suspendendo interinamente as resoluções dos conselhos provinciais (arts. 86 e 87). 5º) Prorrogando ou adiando a assembléia geral, e dissolvendo a Câmara dos Deputados, nos casos em que o exigir a salvação do Estado; convocando imediatamente outra que a substitua; 6º) Nomeando e demitindo livremente os ministros de estado. 7º) Suspendendo os magistrados nos casos do artigo 154. 8º) Perdoando os moderando as penas impostas aos réus condenados por sentença. 9º) Concedendo anistia em caso urgente, e que assim aconselhe e humanidade e bem do estado.
O Estado brasileiro, em consequência, contava com quatro poderes: os três idealizados por Montesquieu e o poder moderador,[21] que ocupava posição nitidamente superior aos demais.
Ao analisar o poder moderador, Pimenta Bueno[22] ressaltava que ele
"é a suprema inspeção da nação, é o alto direito que ela tem, e que não pode exercer por si mesma, de examinar como os diversos poderes políticos, que ela criou e confiou a seus mandatários, são exercidos. É a faculdade, que ela possui, de fazer com que cada um deles se conserve em sua órbita, e concorra harmoniosamente com outros para o fim social, o bem ser nacional; é quem mantém seu equilíbrio, impede seus abusos, conserva-os na direção de sua alta missão; e é enfim a mais elevada força social, o órgão político mais ativo, o mais influente, de todas as instituições fundamentais da nação."
A “suprema inspeção da nação”, no entanto, não tinha legitimidade democrática, mas teológica.
No Brasil contemporâneo, voltou-se a flertar, mais uma vez, com regimes de exceção, o que ocorreu com a invocação da pseudocompetência das Forças Armadas para exercer um pseudopoder moderador, com base no art. 142, caput, da Constituição de 1988 (“As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.”).
Jorge Miranda[23] (2007: 138), ao analisar o anteprojeto da Comissão Afonso Arinos, ressaltou três pontos como sendo os mais negativos, sendo um deles o seguinte:
"[A] atribuição ainda às Forças Armadas de uma missão de garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa expressa destes, nos casos estritos da lei, da ordem constitucional (art. 414) – o que, apesar do cuidado posto na formulação, pode vir a ser pretexto para qualquer protagonismo de tutela ou intervenção (sendo certo que, num Estado de direito democrático, as Forças Armadas não podem, directa ou indirectamente, desempenhar funções políticas)."
A atenção dispensada à temática pelo constitucionalista português tinha uma razão: Portugal, a exemplo do Brasil, também tinha convivido com uma ditadura por longo período até a redemocratização, cujos males eram bem conhecidos. Nos momentos de transição, não é incomum que a semente do arbítrio ainda esteja arraigada em pessoas e instituições, o que, longe de se dissipar com o aflorar de liberdades formais, precisa ser retirado de mentes e corações.
Com o fim do ciclo dos governos de esquerda que estiveram à frente do país no período 2003-2016, e a assunção de um governo de extrema direita no quadriênio 2019-2022, lideranças militares, ao divergirem de posicionamentos do Supremo Tribunal Federal, vez ou outra “lembravam” que, nos termos do art. 142, caput, da Constituição de 1988, deviam obediência à Constituição e zelariam por ela, o que legitimaria as Forças Armadas a atuar como árbitros, no exercício de uma espécie de poder moderador, em eventuais conflitos do Poder Judiciário com o Executivo. Em razão da efervescência do quadro e do curioso apoio de elevado quantitativo de pessoas que não vivenciou, ou simplesmente esqueceu, as mazelas impostas ao povo brasileiro pela ditadura militar, a Câmara dos Deputados tornou público parecer, subscrito pelo Secretário-Geral da Mesa em 3.6.2020, no qual afirmava que “o art. 142 não autoriza a realização de uma ‘intervenção militar constitucional’, ainda que de caráter pontual”, acrescendo que “nenhum dispositivo constitucional e legal faz qualquer referência à suposta atribuição das Forças Armadas para o arbitramento de conflitos entre poderes”. O inusitado precisou ser rebatido e expressamente negado, o que bem evidencia o momento político da época.
Volvendo à Constituição Imperial, o poder executivo era encabeçado pelo próprio imperador, que o exercia por intermédio dos seus ministros de estado:[24] estes últimos eram responsáveis pelos seus atos, mesmo que cumprissem ordem verbal ou escrita do imperador.[25] Ainda merece menção a existência do Conselho de Estado, cujos membros, nomeados pelo imperador, eram vitalícios;[26] conquanto exercesse funções meramente consultivas,[27] seus membros eram responsáveis “pelos conselhos que derem opostos às leis e aos interesses do Estado, manifestamente dolosos”.[28] Nas palavras do Visconde de Uruguay,[29] “em geral, he uma corporação composta de homens eminentes, collocados junto ao Governo, para o aconselhar, e cujas attribuições tem variado segundo os tempos, e as circunstâncias politicas”. De acordo com esse autor,[30] a origem remota do Conselho de Estado no Brasil é o Conselho de Procuradores Geraes das Provincias, cujos integrantes eram nomeados pelos eleitores das paróquias, e que fora criado por D. Pedro I, então príncipe regente, com a edição do Decreto de 16.2.1822, logo, em momento anterior à nossa independência. Suas funções básicas, exercidas nas reuniões realizadas no Paço Imperial, eram de aconselhamento ao monarca sempre que solicitado. Esse Conselho foi dissolvido pela Assembleia Constituinte por Carta de Lei de 20.10.1823, declarando que somente os seus deputados eram procuradores do povo; além disso, enquanto a Constituição não criasse um Conselho do Imperador, somente seriam conselheiros de Estado os ministros. Com a já referida dissolução da Constituinte, o Conselho foi criado, como mencionado, por Decreto de 13.11.1823. A respeito do Conselho de Estado criado pela Constituição de 1824, assim se manifestou o Visconde de Uruguay:[31]
"posto que fosse uma corporação meramente consultiva e sem jurisdicção propria, não era todavia um auxiliar administrativo perfeito e completo, um Conselho de Estado semelhante ao da França, de Portugual e da Hespanha, e ao nosso de hoje (1862). Não era dividido em Secções. Não trabalhava com os Ministros. Era uma creação tão especial, tão original, como a do Poder Moderador, suscitada pela idéa d’este".
O Poder Judiciário era composto de jurados, juízes de paz, juízes de direito, Tribunais de Relação e do Supremo Tribunal de Justiça,[32] cujos conselheiros seriam “juízes letrados, tirados das relações por suas antiguidades”.[33] Este último tribunal, composto por dezessete membros, foi organizado pela Lei de 18.9.1828.
Ao inaugurar o rol de disposições afetas ao Poder Judicial, o art. 151 da Constituição de 1824 dispunha que “o Poder Judicial é independente”, fórmula não reproduzida na congênere de 1988. À luz dessa constatação, pergunta-se: o Poder Judiciário continua a ser independente? À evidência que sim. A opção pela fórmula constitucional decorria da constatação de que, historicamente, e com maior intensidade em regimes absolutistas, as principais funções estatais eram as de fazer e de aplicar as leis, incluindo-se sob esta última epígrafe a resolução dos conflitos de interesses, o que ficava a cargo dos juízes, livremente nomeados e exonerados pelo monarca, já que atuavam sob autoridade deste último. Na Inglaterra, pouco a pouco, a solução dos conflitos de interesses foi transferida do soberano para agentes e órgãos incumbidos de tal atividade. Apesar disso, ainda não era possível se falar numa função jurisdicional autônoma ou mesmo em controle dos atos administrativos, pois ausente um requisito imprescindível ao exercício de tais atividades: a independência funcional. O soberano permanecia com o poder de demitir os agentes sem a necessidade de justificar seus atos, o que em muito os enfraquecia, comprometendo a consecução do próprio ideal de justiça. Somente em 1701, com o Act of Settlement, é que foi garantida a independência dos agentes da Justiça, sendo regulamentada a sua competência funcional e vedada a livre demissão. Desde então, pode-se falar na existência de uma função jurisdicional efetivamente independente. Esse mesmo act ainda legou a cláusula during good behavior (“enquanto bem servir”), repetida na Constituição norte-americana de 1787 (art. 3º, seção I), que, além de reconhecer a vitaliciedade no cargo, afastava, implicitamente, a sua propriedade, o que impedia fosse o cargo vendido, prática muito difundida à época. Isso permite compreender a razão de Locke[34], escrevendo em momento anterior ao Act of Settlement, apesar de identificar a função, não visualizar a existência de um verdadeiro Poder Judicial, isso em razão da submissão de seus agentes à Coroa. Já Montesquieu[35], escrevendo em momento posterior, e buscando sistematizar a Constituição inglesa, identificou a tripartição do poder.
O último título da Constituição de 1824, o oitavo, era dedicado às disposições gerais e à garantia dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros.
No plano das disposições gerais, era estabelecido o procedimento de reforma da Constituição[36] e reconhecida a sua natureza semirrígida, somente sendo considerado constitucional o que dizia respeito aos limites e atribuições dos Poderes Políticos[37], e aos direitos políticos e individuais dos cidadãos, de modo que tudo o mais poderia ser alterado pelo processo legislativo ordinário.[38]
Os direitos civis e políticos, por sua vez, eram reconhecidos no extenso rol do art. 179, último preceito da Constituição de 1824. Essa posição topográfica evidencia uma perspectiva estatocentrista, em que o ser humano, não obstante protegido, pressupõe o Estado, sendo meio, não fim da atuação estatal. Foram consagrados: I. o princípio da legalidade, de modo que nenhum cidadão “póde ser obrigado a fazer, ou deixar de fazer alguma cousa, senão em virtude da Lei”; II. a exigência de que a lei tenha uma utilidade publica; III. a irretroatividade da lei; IV. a liberdade de expressão, sem censura, com a responsabilização pelos abusos; V. a impossibilidade de perseguição por motivo de religião, “uma vez que respeite a do Estado, e não offenda a Moral Publica”, lembrando-se que a religião oficial era a Catholica Apostólica Romana, enquanto as demais deveriam ficar restritas ao culto doméstico ou particular, em casas para isto destinadas, sem forma alguma exterior ao templo[39]; VI. o direito de permanecer e sair do Império, com os respectivos bens; VII. a inviolabilidade do domicílio; VIII. A presunção de inocência, de modo que “ninguem poderá ser preso sem culpa formada, excepto nos casos declarados na Lei”, além do direito de conhecer “o motivo da prisão, os nomes do seu accusador, e os das testermunhas, havendo-as”; IX. o direito de prestar fiança idônea, dispondo que “ainda com culpa formada, ninguem será conduzido á prisão, ou nella conservado estando já preso, se prestar fiança idonea, nos casos, que a Lei a admitte: e em geral nos crimes, que não tiverem maior pena, do que a de seis mezes de prisão, ou desterro para fóra da Comarca, poderá o Réo livrar-se solto”; X. a exigência de ordem escrita da autoridade legítima para a prisão, excetuado o flagrante delito; XI. a garantia do juiz natural e a anterioridade da lei penal; XII. a independencia do Poder Judicial, sendo que nenhuma autoridade poderá avocar as causas pendentes, sustá-las, “ou fazer reviver os Processos findos”; XIII. a igualdade perante a lei, lembrando que a escravidão, embora não fosse mencionada no texto constitucional, era a principal fonte de mão de obra; XIV. a possibilidade de acesso aos cargos públicos; XV. a exigência de que todos contribuam para as despesas do Estado, na proporção dos seus haveres; XVI. a abolição dos privilégios, “que não forem essencial, e inteiramente ligados aos cargos, por utilidade publica”; XVII. a inexistência de foro privilegiado, “à excepção das causas, que por sua natureza pertencem a juizos particulares”; XVIII. a necessidade de organização de um Codigo Civil e um Criminal; XIX. a abolição de açoites, tortura, marca de ferro quente, e todas as mais penas crueis; XX. o personalismo da pena, sendo afastado o confisco de bens e a transmissão da infâmia do réu aos seus parentes; XXI. a dignidade do preso, com a previsão de que “as Cadêas serão seguras, limpas, e bem arejadas, havendo diversas casas para separação dos Réos, conforme suas circumstancias, e natureza dos seus crimes”; XXII. o direito de propriedade, permitida a desapropriação mediante prévia indenização; XXIII. a dívida pública; XXIV. a liberdade de profissão e de atividade econômica, salvo se se opuser aos costumes públicos, à segurança e à saúde dos cidadãos; XXV. a abolição das Corporações de Officios, seus Juizes, Escrivães, e Mestres; XXVI. a propriedade das descobertas e produções aos seus inventores, sendo-lhes assegurado pela lei um privilegio exclusivo temporario ou o ressarcimento da perda que venham a sofrer pela vulgarização; XXVII. A inviolabilidade da correspondência; XXVIII. “as recompensas conferidas pelos serviços feitos ao Estado, quer Civis, quer Militares; assim como o direito adquirido a ellas na fórma das Leis”; XXIX. a responsabilidade dos empregados publicos por suas ações e omissões; XXX. o direito de petição; XXXI. os socorros públicos; XXXII. a Instrucção primaria, e gratuita a todos os cidadãos; XXXIII. colégios e universidades, onde serão ensinados “os elementos das Sciencias, Bellas Letras, e Artes”; XXXIV. a impossibilidade de os poderes constitucionais suspenderem a Constituição, no que diz respeito aos direitos individuais, ressalvadas as hipóteses do inciso XXXV: “nos casos de rebellião, ou invasão de inimigos, pedindo a segurança do Estado, que se dispensem por tempo determinado algumas das formalidades, que garantem a liberdede individual, poder-se-ha fazer por acto especial do Poder Legislativo. Não se achando porém a esse tempo reunida a Assembléa, e correndo a Patria perigo imminente, poderá o Governo exercer esta mesma providencia, como medida provisoria, e indispensavel, suspendendo-a immediatamente que cesse a necessidade urgente, que a motivou; devendo num, e outro caso remetter á Assembléa, logo que reunida fôr, uma relação motivada das prisões, e d'outras medidas de prevenção tomadas; e quaesquer Autoridades, que tiverem mandado proceder a ellas, serão responsaveis pelos abusos, que tiverem praticado a esse respeito”.
4. As vicissitudes do Império
Ante o enfraquecimento da popularidade do imperador, situação nitidamente influenciada pela Confederação do Equador, de 1824, e ulterior perda da Cisplatina, atual República do Uruguai, em 1828, tornou-se inevitável a sua abdicação, o que ocorreu em 7.4.1831. A partir desse momento, a centralização de poder começou a ser enfraquecida e as ideias federalistas e republicanas,[40] embora timidamente, começaram a germinar.
Foi constituída a Regência Trina Provisória, isso em razão da menoridade do príncipe herdeiro, D. Pedro II, integrada pelo General Francisco de Lima e Silva e pelos senadores Nicolau de Campos Vergueiro e Carneiro de Campos, o Marquês de Caravelas; o Ministério, demitido por D. Pedro I, foi readmitido e a Assembleia-Geral convocada.
A Lei de 12.10.1832, aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pela Regência, autorizou a reforma da Constituição, o que foi feito com a edição do Ato Adicional de 12.8.1834. Como principais alterações, podem ser mencionadas (1) a substituição da Regência Trina Permanente pela Regência Una Provisória; (2) a supressão do Conselho de Estado; e (3) a transformação, em assembleias legislativas, dos conselhos gerais das províncias. Em 7.4.1835, o Padre Diogo Antônio Feijó, senador por São Paulo, foi eleito regente, tendo enfrentado inúmeras revoltas espalhadas por todo o território nacional. Em 19.9.1837, o regente renuncia e o governo é provisoriamente assumido por Araújo Lima, ministro do Império, sendo este último, em 1838, eleito regente; entendendo excessivos os poderes outorgados às províncias pelo Ato Adicional de 1834, encaminhou projeto de “ato interpretativo” ao Senado, o qual, aprovado em 12.5.1840, sob o pretexto de interpretar, restringiu-lhe o alcance. As províncias tiveram subtraído o seu sopro de autonomia, sendo restaurada a dependência para com o Poder Central. Com a maioridade civil de D. Pedro II, então com 14 anos cronológicos, o que ocorreu em 23.7.1840,[41] as práticas parlamentaristas, ainda que de modo velado, foram paulatinamente se sedimentando, o que era reforçado pelo reconhecimento da irresponsabilidade do imperador e correlata responsabilidade dos ministros.[42] A livre nomeação e demissão dos ministros, por parte do imperador, passou a ser praticada com muita parcimônia.
O Conselho de Estado foi restabelecido pela Lei nº 251, de 23.11.1841, sendo os seus conselheiros “responsáveis pelos conselhos que derem ao Imperador, opostos à Constituição, e aos interesses do Estado”.[43] Foi intenso o debate, à época, sobre a possível inconstitucionalidade dessa lei; afinal, se o Conselho de Estado fora suprimido por uma reforma constitucional, apenas outra reforma constitucional poderia restabelecê-lo, não a legislatura ordinária.[44] A tese contrária, vitoriosa, acolhida pelo Visconde do Uruguay, era no sentido de que a só extinção do órgão não guardava similitude com a vedação à sua instituição, máxime porque a extinção ocorrera em um contexto em que o poder moderador também seria extinto, o que não se confirmou, daí a possibilidade de o órgão ser recriado, ainda que por lei.[45]
O Decreto nº 523, de 20.7.1847, criou o cargo de presidente do Conselho de Ministros, a ser nomeado pelo imperador. Este último agente, apesar do designativo, não exercia a função de chefe de Governo, já que a Chefia do Executivo era atribuída ao imperador. Tinha a atribuição de organizar o Gabinete, nomeando os ministros que o integrariam, os quais titularizariam cada uma das pastas existentes. Era um Gabinete sui generis, pessoalmente responsável por seus atos, dependente da confiança da Câmara dos Deputados e do apoio do imperador. Em caso de divergência, cabia ao imperador decidir pela dissolução do Gabinete ou da Câmara. Nos quarenta e dois anos em que esse sistema parlamentar de governo foi adotado (20.7.1847 a 15.11.1889), foram constituídos trinta e dois gabinetes. De acordo com Barbalho,[46] o equilíbrio alcançado com a coexistência entre a monarquia hereditária e a representatividade democrática indireta dos ministros de Estado, que deveriam ter o apoio da Câmara dos Deputados, era mais aparente e real. Afinal, o imperador, ante o elevado poder que concentrava, de fato e de direito, continuava a dominar o cenário político.
O Segundo Reinado, que se iniciara com D. Pedro II, testemunhou uma insurreição no Rio Grande do Sul, em 1835, do que resultou a proclamação da República do Piratinim, e, após a sua superação, conviveu com considerável período de estabilidade. Somente em 1870, com a fundação do Clube Republicano, que tinha como órgão de divulgação o periódico A República, é que as ideias anti-imperiais voltaram a florescer, contando a cada dia com maior número de simpatizantes. A abolição da escravatura foi tida como uma vitória do movimento, sendo parte integrante de um processo irreversível de deterioração da forma monárquica de governo. Embora D. Pedro II fosse sensível à libertação dos escravos, era grande a sua prudência no trato da temática, isso em razão dos seus evidentes reflexos no apoio político da aristocracia branca e no impacto sobre a economia brasileira, eminentemente rural e que se valia, quase exclusivamente, da mão de obra escrava. A libertação, portanto, haveria de ser gradual.
Em 1887, o imperador padeceu de grave patologia, tendo embarcado para a Europa, por indicação médica, em 30 de junho. Nesse período, sua filha, a Princesa Isabel, assumiu interinamente o trono. Inflada pelas massas e impactada com a popularidade que estava por vir, antecipou-se ao pai e, em 13.5.1888, assinou a Lei Áurea.[47] Os escravos imediatamente abandonaram a lavoura, que definhou e gerou um grande desequilíbrio na balança comercial. Como não havia postos de trabalho e os negros não receberam qualquer auxílio ou preparo prévio, acabaram na miséria e, desta feita, em liberdade, continuaram a integrar os últimos escalões sociais.[48]
Epílogo
O processo evolutivo do constitucionalismo de qualquer Estado de Direito deve ser compreendido na perspectiva dos seus distintos períodos históricos, delineados conforme as iniciativas dos poderes constituídos e as vicissitudes do ambiente sociopolítico.
A Constituição brasileira de 1824, fruto de outorga imperial, nos oferece um desenho institucional que nos permite visualizar a importância do princípio democrático em nossas vidas, e como sua ausência não conduzirá a resultado outro senão ao refestelar das aristocracias de plantão, quaisquer que sejam elas.
Regimes ditatoriais e autocráticos, por melhores que sejam, não são dignos de serem cotejados com as piores democracias. Nenhum poder deve ser exercido à margem e indiferente à vontade popular, ainda que o seu alegado e insincero objetivo seja o de restabelecer a ordem, zelando pelo interesse coletivo.
Referências
BARBALHO. Commentarios à Constituição Federal Brazileira. Rio de Janeiro: Typographia da Companhia Litho-Typographia, 1902.
BUENO, Pimenta. Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Editora Ministro da Justiça, 1958.
CASTRO, Araújo. A Constituição de 1937. Rio de Janeiro: Livraria Editora Freitas Bastos, 1938.
CONSTANT, Benjamin. Príncipes de Politique. In: ROULIN, Alfred (Org.). Oeurvres de Benjamin Constant. Paris: Librairie Gallimard, [s.d.]. p. 1.112.
GARCIA, Emerson. Comentários à Constituição Brasileira, volumes 1 e 4, tomo II. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2023.
GRASSI, Roberto Joacir. Império brasileiro (Poder Executivo e Poder Moderador). ESD, v. 42, p. 315-316, 1980.
LIMA, Manuel de Oliveira. O Império Brasileiro (1821-1889). São Paulo: EDUSP, 1989.
LOCKE, John. The Second Treatise of Government: Essay concerning the true original, extent and end of civil government. 3ª ed. Norwich: Basil Blackwell Oxford, 1976.
MAXIMILIANO, Carlos. Commentarios a Constituição Brasileira. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos Santos, 1918.
MIRANDA, Jorge. A transição constitucional brasileira e o Anteprojeto da Comissão Afonso Arinos, in RDMPERJ, nº 25, p. 123, jan.-jun./2007.
MONTESQUIEU, Barão de (Charles Secondat). De L’Esprit des Lois, tomo I. Paris: Éditions Garnier Fréres, 1949.
URUGUAY, Visconde de. Ensaio sobre o direito administrativo, tomo I. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1862.
[1] Decreto de 3.6.1822 (“Manda convocar uma Assembléia Geral Constituinte e Legislativa composta de Deputados das Províncias do Brasil, os quais serão eleitos pelas Instruções que forem expedidas”).
[2] As regras para a eleição dos membros da Assembleia-Geral Constituinte foram definidas pelo Decreto nº 57, de 19.6.1822, que fixou o quantitativo de cem deputados, distribuídos entre as dezessete províncias então existentes (Capítulo IV, 1).
[3] Instrução nº 57, de 19.6.1822, Capítulo IV. Foi prevista a eleição indireta, em dois graus.
[4] Cf. CASTRO, Araújo. A Constituição de 1937. Rio de Janeiro: Livraria Editora Freitas Bastos, 1938. p. 12.
[5] GRASSI, Roberto Joacir. Império brasileiro (Poder Executivo e Poder Moderador). ESD, v. 42, p. 315-316, 1980.
[6] Em seu decreto, o imperador assim justificou a drástica medida: “a fim de salvar o Brasil dos perigos que lhe estavam iminentes; e havendo esta Assembléia perjurado ao tão solene julgamento, que prestou à Nação, de defender a integridade do Império, sua independência e a minha dinastia: Hei por bem, como Imperador e Defensor Perpétuo do Brasil, dissolver a mesma Assembléia...”.
[7] As regras para a eleição dos membros da nova Assembleia-Geral Constituinte, consoante o Decreto de 17.11.1823, eram aquelas estabelecidas no Decreto nº 57/1822, combinadas com as veiculadas pelo Decreto de 3.8.1822.
[8] Decreto de 11.3.1824.
[9] Constituição brasileira de 1824, art. 165.
[10] Em cumprimento ao disposto no art. 69 da Constituição do Império, foi aprovada a Lei nº 1 de outubro de 1828, responsável pela organização das câmaras municipais, que seriam constituídas por nove vereadores nas cidades e sete nas vilas. Esses órgãos, em verdade, exerciam funções meramente administrativas, não possuindo qualquer autonomia. As estruturas municipais de poder, no entanto, continuaram dependentes das assembleias das províncias, situação que perdurou até a proclamação da República.
[11] Constituição brasileira de 1824, arts. 71 e 72.
[12] Constituição brasileira de 1824, arts. 85 a 88.
[13] Constituição brasileira de 1824, art. 13.
[14] Constituição brasileira de 1824, art. 35.
[15] Constituição brasileira de 1824, arts. 40 a 43.
[16] Constituição brasileira de 1824, art. 92, V.
[17] Constituição brasileira de 1824, art. 95, I.
[18] Constituição brasileira de 1824, arts. 43 e 101, I.
[19] No período de 1824 a 1889, o poder moderador foi exercido em doze ocasiões distintas para dissolver a Câmara, não se olvidando a dissolução, em 1823, por D. Pedro I, da Assembleia Constituinte que elaboraria a Constituição Imperial. Cf. LIMA, Manuel de Oliveira. O Império Brasileiro (1821-1889). São Paulo: EDUSP, 1989. p. 65.
[20] CONSTANT, Benjamin. Príncipes de Politique. In: ROULIN, Alfred (Org.). Oeurvres de Benjamin Constant. Paris: Librairie Gallimard, [s.d.]. p. 1.112 e ss.
[21] Constituição brasileira de 1824, art. 10.
[22] BUENO, Pimenta. Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Editora Ministro da Justiça, 1958. p. 201.
[23] MIRANDA, Jorge. A transição constitucional brasileira e o Anteprojeto da Comissão Afonso Arinos, in RDMPERJ, nº 25, p. 123 (138), jan.-jun./2007.
[24] Constituição brasileira de 1824, art. 102, caput.
[25] Constituição brasileira de 1824, art. 135.
[26] Constituição brasileira de 1824, art. 137.
[27] Constituição brasileira de 1824, art. 142.
[28] Constituição brasileira de 1824, art. 143.
[29] URUGUAY, Visconde de. Ensaio sobre o direito administrativo. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1862. t. 1. p. 207.
[30] URUGUAY, Visconde de. Ensaio sobre o direito administrativo. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1862. t. 1. p. 234-235.
[31] URUGUAY, Visconde de. Ensaio sobre o direito administrativo. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1862. t. 1. p. 237.
[32] Constituição brasileira de 1824, art. 151 e ss.
[33] Constituição brasileira de 1824, art. 163.
[34] LOCKE, John. The Second Treatise of Government: Essay concerning the true original, extent and end of civil government. 3ª ed. Norwich: Basil Blackwell Oxford, 1976, §§ 143 a 148.
[35] MONTESQUIEU, Barão de (Charles Secondat). De L’Esprit des Lois. Paris: Éditions Garnier Fréres, 1949. t. I, p. 163 e ss..
[36] Constituição brasileira de 1824, arts. 174 a 177.
[37] Note-se que o denominado Poder Judicial era considerado um poder político pela Constituição Imperial (art. 10).
[38] Constituição brasileira de 1824, art. 178.
[39] Constituição brasileira de 1824, art. 4º.
[40] A primeira manifestação republicana ocorreu em Vila Rica, em 1789, tendo Tiradentes como principal personagem. Posteriormente, teve-se a revolução pernambucana de 1817. Em ambas, no entanto, o federalismo não foi invocado. Somente com a revolução pernambucana de 1824, que culminou com a formação da Confederação do Equador, composta por algumas províncias do Norte, é que a forma federal de Estado começou a frequentar a pauta de reivindicações.
[41] A lei que pôs fim à regência, com origem em projeto apresentado pelo Deputado Andrada Machado, irmão de José Bonifácio de Andrada e Silva, tinha um único artigo, com a seguinte redação: “Sua Majestade Imperial o senhor D. Pedro II é desde já declarado maior”.
[42] Constituição brasileira de 1824, arts. 99, 129, 133 e 135.
[43] Decreto nº 251/1841, art. 4º. Com a proclamação da República, prevaleceu o entendimento do Governo Provisório de que se tratava de estrutura orgânica de essência monárquica, o que levou à sua extinção, com a posterior criação, pelo Decreto nº 967, de 2.1.1903, da figura do Consultor-Geral da República.
[44] Cf. URUGUAY, Visconde de. Ensaio sobre o direito administrativo. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1862. t. 1. p. 243.
[45] Cf. URUGUAY, Visconde de. Ensaio sobre o direito administrativo. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1862. t. 1. p. 245-248.
[46] BARBALHO. Commentarios à Constituição Federal Brazileira. Rio de Janeiro: Typographia da Companhia Litho-Typographia, 1902. p. 200.
[47] A Lei nº 3.353/1888 tinha apenas dois artigos: “Art. 1º. E’ declarada extincta desde a data desta Lei a escravidão no Brasil. Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrario”. Simplesmente passava ao largo das preocupações do Império a criação de políticas públicas para a inserção social dos negros recém-libertos ou, mesmo, para a reestruturação da economia, que praticamente não conhecia mão de obra outra que não a escrava.
[48] A respeito da libertação dos escravos e de sua influência na queda da monarquia, vale lembrar as palavras de Carlos Maximiliano: “[a] influencia de D. Isabel sobre o andamento da Lei Aurea foi directa e efficientissima, ainda que apaixonados radicaes porfiem em contestal-a. A princesa lutou, em pessoa, com o Ministro Cotegipe, semi-escravista irreductível. Convidou, para organizar o gabinete, a João Alfredo, franco partidário da abolição immediata. Esta se fez em dous mezes! A pobre senhora, que não sabia quanto a popularidade é uma fugaz ventura, porque a multidão sempre se revela esquecediça e voluvel como as creanças: D. Isabel, radiante com a alacridade e as acclamações das ruas, encontrou o genial ex-presidente do Conselho e o interrogou, entre risonha e triumphal: ‘Então, Conselheiro, quem ganhou a partida?’ – ‘Foi Vossa Alteza’, respondeu, sem vacilar, o arguto Cotegipe; ‘mas perdeu o throno’” (MAXIMILIANO, Carlos. Commentarios a Constituição Brasileira. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos Santos, 1918. p. 39).